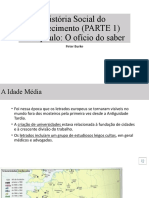Professional Documents
Culture Documents
OLIVEIRA, João Pacheco. Os Indígenas Na Fundação Da Colônia
OLIVEIRA, João Pacheco. Os Indígenas Na Fundação Da Colônia
Uploaded by
BRUNO Lovera Marostega0 ratings0% found this document useful (0 votes)
35 views63 pagesOriginal Title
OLIVEIRA, João Pacheco. Os indígenas na fundação da colônia
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
35 views63 pagesOLIVEIRA, João Pacheco. Os Indígenas Na Fundação Da Colônia
OLIVEIRA, João Pacheco. Os Indígenas Na Fundação Da Colônia
Uploaded by
BRUNO Lovera MarostegaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 63
Organizadores:
Joao Fragoso e
Maria de Fatima Gouvéa
O Brasil Colonial 1443-1580
Volume 1
Pedicdo
CIVILIZACAO BRASILEIRA. PUCRS/BCE
Rio de Janeiro INA
2014 1.089 701-6
PUCRS/BIBLIOTECA CENTRAL — COPIA NOS TERMOS DA LEI 9.610/1998 E LEI
capituLo4 Os indigenas na fundagio da colénia:
uma abordagem critica
Joao Pacheco de Oliveira*
Introducaéo metodolégica
Muitas vezes e até num passado recente as investigaces sobre as relagbes
entre Os europeus e as populagGes autéctones na América portuguesa
assumiram 0 aspecto de uma confrontagio abstrata entre uma populacio
primitiva e homogénea e colonizadores europeus do inicio do renasci-
mento. Ou seja, entre pessoas portadoras de culturas localizadas em
etapas muito distantes da hist6ria da humanidade. Um encontro portanto
altamente improvavel e ilégico, no qual 0 estudioso vem a adotar (sem
disso ter qualquer consciéncia) uma perspectiva unilateral e etnocéntri-
ca, como herdeiro (natural e feliz) de uma das partes. Esta instaurado
ocendrio ideal para um exercicio ltidico de producio de sentido, que se
respalda no senso comum e nas suas reelaborag6es eruditas.
E essa tomada de partido (implicita, nao consciente) da narrativa que
ira determinar as perguntas, os temas e problemas que passam a dirigir a
*Professor de Antropologia no Museu Nacional. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
PUCRS/BIBLIOTECA CENTRAL ~ COPIA NOS TERMOS DA LE! 9.610/1998 E LEI 10.695/2003.
© BRASIL COLONIAL - VOL. 1
utilizagao das fontes ea leitura dos documentos da época. Transformado
em mero exemplo da justaposicdo de duas humanidades antagonicas e
distantes, o encontro passa a ter um carter apenas epis6dico e paradoxal:
busca-se a ineficiéncia das tecnologias e dos sistemas econdmicos indigenas, a
fragilidade de suas estruturas politicas e 0 aspecto bizarro de seus costumes.
Tudo estimula a enfatizar 0 exotismo e a transitoriedade. Temas como a
inadaptacao dos nativos ao trabalho e a sua acelerada —e presumidamente
inexoravel — desaparicao impéem-se como naturais, prescindindo de exame
¢ explicitacio, assim como o seu coroldrio mais direto: a necessidade de
uma forga de trabalho que viesse a substituir os indigenas
O encontro em si mesmo, descrito como algo acidental e fortuito, é visto
quase com ironia e non sense dentro de uma narrativa mais abrangente,
supostamente inexordvel e de sentido univoco, da expansio do mundo
europeu. Tudo concorre para deixar claro a condigao efémera daquele
encontro e a pequena importancia dos indigenas na conformagao do mun-
do colonial que ird se instaurar no futuro territério da nagao brasileira.
O artigo a seguir adota outros pressupostos e caminha na contracor-
rente das leituras acima criticadas. Toma a nogao do encontro colonial’
como uma categoria analitica central para a produgao de um conheci-
mento critico sobre o social. Para operar com esse instrumento concei-
tual ha que partir de um quadro histérico preciso, no qual as formas e
unidades societarias so engendradas por atores premidos por estruturas
assimétricas de poder e por processos mais amplos, motivados todos
por concepgoes (diferencialmente distribuidas) de uma dada época. E
preciso que o investigador se esforce por reconstruir, como um concreto
de pensamento, a densidade das relagdes sociais e compreender a sua
tessitura enquanto fato contemporaneo. Longe de ser 0 palco para um
m todas
teatro do absurdo, 0 encontro colonial é 0 Iécus onde se atual
as praticas e representagées, é ali que se instituem as relagdes sociais,
produzindo simultaneamente 0 colonizador e 0 colonizado.*
O século XVI nao deve ser pensado a partir das reelaboragdes do
século XVII nem do papel hegeménico assumido pelas teorias raciais e
principios evolucionistas hegemdnicos no século XIX. A contempora-
168
PUCRSI/BIBLIOTECA CENTRAL - COPIA NOS TERMOS DA LEI 9.610/1998 E LEI 10.695/2003.
O05 INDIGENAS NA FUNDAGAO DA COLONIA: UMA ABORDAGEM CRITICA
neidade das relag6es sociais pode ser resgatada através da recuperacdo
analitica de quadros interativos concretos, atualizados por meio de
situages sociais e histéricas.?
O analista nunca se deve limitar a descrever as situagGes exclusiva-
mente a partir de um tnico prisma, mas sim procurar incorporar os
interesses, as logicas e os valores de atores sociais subalternos.‘ A dife-
renga de uma narrativa abstrata e analitica, remetendo a uma histéria
interpretativa, 0 texto a seguir procura reapresentar os eventos de que
participaram os indigenas, retirando as populagdes autéctones de um
lugar secundério no que concerne a configuragio do encontro colonial.5
Pelo menos no que concerne ao século XVI, o problema nao é tanto a
inexisténcia de informagées, mas sim 0 modo superficial e quase aned6-
tico com que foram tratadas as populagées autéctones, atribuindo-lhes
(naquela época) caracteristicas que sao de hoje ou incorporando estere6-
tipos que nado eram contemporaneos aos fatos descritos e que provém de
contextos histéricos posteriores.
Por fim, uma dimensao comparativa é fundamental para escapar @
enorme forga das versdes europeizantes do fendmeno colonizatério e
autorrepresentagoes ocidentais da historia. A colonizacao portuguesa
no Brasil nao foi aqui abordada como resultante de um modelo a priori,
mas como algo que se vai definindo progressivamente, a partir de opcdes
contrastantes com espanhdis e franceses, que vao gerando doutrinas e
praticas divergentes. Além de buscar uma compreensio especifica do
século XVI, a andlise pode identificar certas formas e configuracées
sociais que irdo ter efeitos organizativos em contextos Pposteriores, tema
a que voltaremos ao final do texto.
A ocupacao pré-histérica do Brasil
Embora haja um relativo consenso quanto a origem asiatica das po-
pulagées encontradas pelos europeus na América no final do século
XV, existem diferentes teorias sobre a antiguidade dessa ocupagdo e
169
PUCRSIBIBLIOTECA CENTRAL — COPIA NOS TERMOS DA LE! 9.610/1998 E LEI 10.695/2003.
O BRASIL COLONIAL - VOL. 1
as rotas percorridas, A hipétese mais amplamente aceita enfatiza a
via terrestre. Em algumas fases no decurso da tltima glaciagdo, o mar
chegaria a estar 100 metros abaixo de seu nivel atual, propiciando o
aparecimento de uma faixa de terra entre a Asia e 0 extremo norte da
América por onde teriam passado bandos de cagadores em busca de uma
fauna pleistocénica,’ rica fornecedora de carnes e peles. A expansao da
presenga humana no continente se daria no sentido norte-sul e deveria
ser anterior ao fim da glaciagao, ocorrido ha 12 mil anos. Existem no
entanto outras hipdteses sobre migracdes maritimas, similares 4s ocor-
ridas no povoamento do Japao e da Austrdlia (respectivamente ha cerca
de 60 mil e 50 mil anos), que conduziriam diretamente 4 América do
Sul através de alguns arquipélagos. Quanto a antiguidade da presenga
humana, enquanto na academia norte-americana predomina 0 registro
dos 12 mil anos,* baseado nos estudos sobre 0 complexo arqueolégico
de Clévis (Novo México/EUA), estudos realizados no sitio da Pedra
Furada ($40 Raimundo Nonato/Piauf) pela arquedloga Niéde Guidon
indicariam vestigios de ocupacao humana ha cerca de 60 mil anos.’
Se no passado todas essas hipéteses eram vistas como mutuamente
excludentes, hoje ha uma tendéncia a operar criticamente com elas,"
considerando a existéncia de migragdes secundérias, raciocinando com
base em diferentes levas de povoadores'! e recuando a datagao da pre-
senga humana, ao menos no Brasil, para antes dos 12 mil anos.'? Bandos
de cagadores paleoindios, na busca de ambientes timidos e campos de
caga da megafauna, se fixaram em cavernas da regiado de Lagoa Santa
(Minas Gerais) j4 ao redor de 16 mil anos AP. Segundo Prous, a pre-
senga humana, antes bastante rarefeita, em torno de 9 mil anos AP ja
se distribuia com generalidade pelo territ6rio brasileiro.!’ A ocupagio
da faixa litoranea esta atestada pelos achados de intimeros sambaquis,
sobretudo na regiao entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, alguns
de grandes proporgdes, cuja datagio remonta principalmente a entre 5
mil e 2 mil anos AP."
Ainda hoje continua a ser uma referéncia para os antropdlogos a
classificagao proposta por Julian Steward no famoso Handbook of South
170
PUCRSI/BIBLIOTECA CENTRAL - COPIA NOS TERMOS DA LEI 9.610/1998 E LEI 10.695/2003.
OS INDIGENAS NA FUNDAGAO DA COLONIA: UMA ABORDAGEM CRITICA
American Indians (5 volumes, editados entre 1946 e 1949).'’ Baseado
sobretudo na observacao dos reflexos de diferengas ambientais nas estru-
turas sociais, ele delineia quatro tipos. O primeiro é 0 das “terras altas”
(Andes), onde floresceram sociedades centralizadas e extremamente
complexas, com um sistema econOmico diferenciado e abrangendo vastas
extens6es territoriais, possuindo instituigdes politicas especializadas, que
permitiam estabelecer paralelos com Impérios da antiguidade (Egito,
Pérsia, Roma) e com processos de formacao de estruturas estatais em
curso na Europa do periodo dos descobrimentos, Na classificagio das
terras baixas, no entanto, explicitava-se a postura teleolégica do autor.
Assim Steward falava de “cacicados”, sociedades que se localizariam
nas ilhas e no litoral do Caribe, atingindo também 0 extremo norte da
costa do Pacifico; de culturas “de floresta tropical”, que se espalhavam
pela regido amaz6nica, ao longo de toda a costa atlantica (até o Uruguai)
e no litoral sul do Pacifico (do Peru ao Chile); e de tribos “marginais”,
que ocupariam as savanas do Brasil Central, 0 Chaco, 0 cone sul do
continente (Uruguai e Argentina) e algumas pequenas areas dentro das
florestas tropicais.
Sem chegar a configurar processos de centralizagao caracteristicos da
formagao de Estados, os cacicados possuiam uma razoavel complexidade
social, com uma certa diferenciagao entre grupos constitutivos (“clas-
ses”), com chefes locais e algumas formas de articulacao (politico-ritual)
entre aldeias. As culturas da floresta tropical praticavam uma agricultura
de coivara e sabiam explorar os recursos aquaticos, possuiam aldeias ea
sua organizacao social estava assentada no parentesco e no xamanismo
(anotava-se, porém, a auséncia de instituigdes propriamente politicas ou
religiosas). As tribos marginais, por sua vez, possuiam a organizagao
social mais simples, viveriam sobretudo da coleta e da caca e seriam
compostas por pequenos bandos. Na escala demogrdfica, enquanto os
cacicados podiam ter aldeias que excediam um ou poucos milhares de
is minimas das culturas de floresta tropical
tinham algumas centenas de integrantes, enquanto as tribos marginais
moradores, as unidades socia
viviam em bandos com poucas dezenas de componentes.
m1
PUCRS/BIBLIOTECA CENTRAL — COPIA NOS TERMOS DA LEI 9.610/1998 E LEI 10.695/2003.
© BRASIL COLONIAL ~ VOL. 1
O grande mérito da classificagdo de Steward para as investigagdes
hist6ricas é evidenciar a enorme diferenciagao existente entre as popula-
Ges autéctones j4 ao tempo das descobertas, permitindo-nos uma leitura
mais rica da “literatura de testemunho” representada pelos cronistas
viajantes do século XVI. Muitos intérpretes posteriores procederam a
simplificagdes, formulando generalizagdes nem sempre bem fundamen-
tadas e, implicita ou explicitamente, fornecendo um paradigma tinico
para as populag6es autéctones.
Mesmo as fontes da época nao dao conta de tal diversidade. As cré-
nicas sobre o Peru falam de uma sociedade centralizada que se expande
estabelecendo um esquema de vassalagem sobre sociedades menores e
pouco desenvolvidas. Os didrios de Colombo, assim como as veementes
dentincias de Las Casas, tratam principalmente dos tainos e de outros
povos karibes, que constitufam cacicados, tinham aldeias com um ou dois
milhares de pessoas e seus chefes usavam adornos de ouro. Os viajantes
das costas e dos sertdes do Brasil descrevem as populagGes autoctones
de menor ordem de complexidade, respectivamente as sociedades da
floresta tropical e as tribos marginais. De certa forma, cada narrador
tem o seu modelo de indigena, fortemente articulado com as diferentes
propostas de colonizagao que ali serao implantadas.
Ao estabelecer uma classificagao com base na menor complexidade
social e, portanto, no distanciamento progressivo face ao universo an-
dino, os antropélogos de fato ndo inovaram em termos de categorias
cognitivas. Apenas traduziram em seus proprios termos os registros
ideologicamente carregados feitos por cronistas e viajantes dos séculos
XV e XVII, que viam as instituigdes nativas através dos interesses da
époc
colonizagao e como um espelho da Europa de!
A diferenga entre as instituig6es politicas e sociais das terras altas
e das terras baixas da América do Sul ja aparecia, alias, nos primei-
ros esforcos de sistematizagao de uma hist6ria do Brasil, ainda no
século XIX. Varnhagen manifestava apre¢o pelas culturas andinas,
enquanto paralelamente criticava 0 primitivismo dos indigenas que
habitavam 0 territ6rio brasileiro, cuja contribuigdo a construgao da
172
PUCRSIBIBLIOTECA CENTRAL — COPIA NOS TERMOS DA LEI 9.610/1998 E LEI 10.695/2003.
OS INDI.
'GENAS NA FUNDACAO DA COLONIA: UMA ABORDAGEM CRITICA
acao seria de pequena relevancia, Para esses dltimos nao existiria
historia, mas apenas etnografia,'®
A distingao entre indigenas da floresta tropical e tribos marginais de
certa forma reproduz a clivagem entre tupis e tapuias que ira marcar
grande parte da Producao historiogréfica até o primeiro quartel do século
XX. Aocolocar as diferengas culturais em termos de estagios evolutivos,
o discurso cientifico Veio ao encontro de categorias que foram essenciais
para 0 exercicio das politicas coloniais no Brasil, 0 evolucionismo cul-
tural do século XX funcionando, tal como 0 evolucionismo vitoriano,
justaposto a ideologia colonial,
Repensando a diversidade cultural
As pesquisas arqueolégicas e etnoldgicas das tiltimas décadas mostraram
os limites da classificag 10 de Steward e apontaram algumas inconsistén-
cias € paradoxos no uso de tais categorias, evidenciando que 0 espago
brasileiro nao foi de modo algum objeto de uma ocupagio pré-histérica
simples e rudimentar,
As analises de Anna Roosevelt esbogaram um panorama da pré-
historia da Amazénia bastante novo, no qual os assentamentos humanos
eram continuos e permanentes, comportando milhares a dezenas de
milhares de individuos. As economias dos cacicados estabelecidos nas
varzeas ao longo do rio Amazonas e de seus principais afluentes
(...) eram complexas e de larga escala, englobando a produgao intensiva de
plantas de raiz e de sementes em campos de poli ou monocultura, a caga
€ pesca intensiva, o amplo processamento de alimentos e a armazenagem
por longos periodos. Havia investimentos consider4veis em estruturas
substanciais ¢ permanentes ligados & produgao, tais como viveiros de
tartarugas, represas com pesca, campos agricolas permanentes, entre
outras. A agricultura baseava-se mais na limpeza dos terrenos e nas
culturas anuais do que na derrubada e queimada, o principal método
utilizado hoje em dia. (Anna Roosevelt, 1992, p. 72)
173
PUCRSI/BIBLIOTECA CENTRAL — COPIA NOS TERMOS DA LEI 9.610/1998 E LEI 10.695/2003.
© BRASIL COLONIAL - VOL. 1
Embora 0 nascimento de sociedades similares nos Andes tenha prece-
dido de cerca de um milénio a esses cacicados, ha fortes indicios de que
tais desenvolvimentos sejam de origem local. As suas manifestagdes
artisticas, por exemplo, sao “proprias da Amazonia, e nao das areas
montanhosas”.”” A autora alerta ainda para a pressuposigao de que o
padrao etnografico atual seja representativo do padrao antigo, erro em
que costumam incidir alguns antropélogos.'*
Os padrées etnograficos da subsisténcia indigena de cultivo itinerante,
acaga ea pesca parecem, assim, representar um retorno a um modo de
vida que existia na Amaz6nia antes do desenvolvimento das economias
intensivas dos populosos cacicados. (Anna Roosevelt, 1992, p. 77)
A necessidade de uma revisao nao se limita 4 varzea, mas atinge igual-
mente outras partes da regio amazonica e as chamadas tribos margi-
nais. Na regiao do Alto Xingu, muito distante das varzeas, num tipico
habitat de terra firme onde deveriam existir apenas populagGes pequenas
e dispersas, 0 arquedlogo Michael Heckenberger encontrou estruturas
defensivas e grandes aldeias (de 20 a 50 hectares) datadas do século XIV
d.C. Ou seja, em termos populacionais algumas aldeias xinguanas do
século XV deveriam ser quase dez vezes maiores do que as atuais (que
possuem entre 100 e 400 membros), a area como um todo abrigando
uma populagao de algumas dezenas de milhares de pessoas." Possivel-
mente a regiao do Alto Xingu nao constitui um caso tinico, devendo
encontrar-se situagGes de alta concentragdo populacional em outros
sistemas multiétnicos e multilinguisticos.
Nas savanas e nos cerrados do Brasil Central, onde habitariam as
tribos marginais, os arquedlogos apontam que a horticultura pode ter
sido praticada antes mesmo do aparecimento da ceramica (algo em tor-
no de 500 a.C.). Noticiam também a presenga de aldeias circulares da
tradigo aratu com uma dimensdo média de 7 hectares, datadas de 800
a 1.500 d.C. Existem atualmente para mais de 150 sitios arqueoldgicos
com assentamentos anelares nos cerrados do Brasil Central. Ou seja, no
174
PUCRS/BIBLIOTECA CENTRAL ~ COPIA NOS TERMOS DA LE! 9.610/1998 E LEI 10.695/2003.
05 INDIGENAS NA FUNDAGAO DA COLONIA: UMA ABORDAGEM CRITICA
momento da conquista a regio era habitada por uma populagdo muito
mais nuMerosa, com aldeias de dimensdes muito superiores as atuais,
abrigando entre 800 e 2.000 pessoas.”
Tais dados sobre a pré-historia da regio sdo mais concordes com 0
telato que os etndlogos realizaram desde o final da década de 1920 sobre
0s povos de lingua jé, com as investigacées pioneiras de Curt Nimuendaju
e Claude Lévi-Strauss, seguidas por David Maybury-Lewis, Julio Cezar
Melatti, Roberto da Matta, Terence Turner, Renata Viertler, Lux Vidal,
Aracy Lopes da Silva, entre outros. Como resultado desses trabalhos, os
Povos jés deixaram de ser descritos como cagadores némades, para ser
compreendidos como sociedades estruturadas por sistemas de metades
cerimoniais, por grupos etdrios e segmentos residenciais, combinando
periodos de disperséo com outros de reuniio em grandes aldeias.?! Para
manter seu pleno funcionamento institucional, uma tal estrutura nao ape-
nas possibilitava abrigar uma populac4o numerosa como também a exigia
€ essa foi uma condigao severamente afetada nos séculos XIX e XX pelo
ingresso € pela fixagao de nao indigenas em terras habitadas por esses povos.
A dimensao demografica
Apés haver lidado com material arqueolégico e etnolégico é importante
partir para a leitura de dados demograficos. Os niimeros disponiveis sio
muito dispares e torna-se indispensavel vé-los com bastante cuidado e
integrados aquelas outras bases de dados. Em trabalho anteriormente
referido, Steward (1949) avaliou em cerca de 1,5 milhdo a populagao
nativa do Brasil em 1500. A mais modesta estimativa, porém, foi reali-
zada por Rosenblat, que, em 1954, a estimou em 1 milhio de pessoas.??
E muito importante lembrar, alias, que esse montante correspondia as
estimativas realizadas por Varnhagen*’ em seu monumental esforgo de
compor uma histo6ria do Brasil.
Existem, porém, indicagées sobre a precariedade dos ntimeros for-
necidos,”* que contrastam com os que serao apresentados duas décadas
175
PUCRS/BIBLIOTECA CENTRAL — COPIA NOS TERMOS DA LEI 9.610/1998 E LEI 10.695/2003.
© BRASIL COLONIAL - VOL. 1
depois por W. Denevan,*’ em uma obra que se tornou referéncia obri-
gatéria sobre o tema. Sua estimativa foi de 3,6 milhdes de habitantes
para a Amaz6nia e um milhdo para a populagao indigena do litoral.
Atualmente os ntimeros mais aceitos”* so os do historiador John Hem-
ming, que tomou por base tanto as fontes quinhentistas e seiscentistas
quanto criou indices de densidade populacional consoante a fertilidade
e potencialidade de 28 nichos ecolégicos em que dividiu o territério
brasileiro.” Por essa estimativa, a populagdo autéctone do Brasil em
1500 totalizaria 2,4 milhdes de pessoas.
E titil enquadrar os dados referentes ao Brasil nas estimativas refe-
rentes 4 América e Europa. Enquanto Rosenblat mencionava para a
América 0 total de 13,8 milhdes, um historiador dedicado a estudos
do Peru, Nathan Wachtel,” avaliou que somente ali essa populacao no
momento da conquista chegaria a cerca de 10 milhdes. Na década de
1960, os ntimeros apresentados tiveram uma certa convergéncia, mas
eram inteiramente discrepantes dos de Rosenblat: Borah,” em 1964,
falava em 100 milhdes; Dobyns,*” em 1966, estimava entre 90 e 112,5
milhdes; e Pierre Chaunu,! em 1969, ficava entre 80 e 100 milhdes.
Na década seguinte, os calculos de Denevan reduziram um pouco es-
ses ntimeros, vindo a fixar a populagao nativa das Américas em 57,3
milhGes. Esse mesmo autor citava cdlculos de Borah, segundo os quais
a populagao europeia da época — do Mediterraneo aos montes Urais
— estaria entre 60 a 80 milhdes.
Torna-se bastante claro que entre colonizadores e colonizados existiu
uma mesma ordem de grandeza demogrdfica. Um levantamento orde-
nado por D. Manuel I j4 ao final do século XV (1498) apontou que
Portugal possuia pouco mais de 1,4 milhao de habitantes. De acordo
com os dados de Hemming, a populagao do Brasil seria nesse momento
quase o dobro daquela de Portugal. Um especialista® estimou que em
1570 a populagao indigena fosse da ordem de 800 mil, ou seja, estava
reduzida a um tergo de seu volume demografico no inicio do século
XVI. Em fungao dessa violenta redugao populacional, o termo desco-
berta tem sido evitado por muitos estudiosos contemporaneos,** que
176
PUCRS/BIBLIOTECA CENTRAL - COPIA NOS TERMOS DA LEI 9.610/1998 E LEI 10.695/2003.
05 INDIGENAS NA FUNDAGAO DA COLONIA: UMA ABORDAGEM CRITICA
falam em “conquista” (Hemming, 1978; Todorov, 1983*) ou mesmo
“holocausto” (Marcilio, 2000).
A diferenga da cena delineada pelo século XIX, no qual foram
langados 0s alicerces de uma historiografia do Brasil, a populagéo
autoctone desse territério no século XVI nao podia ser caracterizada
como primitiva e rudimentar, nem era uma populagio dispersa e rare-
feita, inteiramente distinta dos colonizadores ou das altas culturas dos
Andes. O espaco geografico da colonia nao era de maneira alguma um
vazio demografico, seus primeiros habitantes viviam em configuragées
socioculturais bem diferenciadas e estabeleceram vinculos distintos com
© process de colonizagao, no qual foram pegas essenciais.
A exploragdo do pau-brasil
As primeiras viagens de Colombo as ilhas do Caribe e 8 América Central
tevelaram ja um imediato potencial econdmico para as terras recém-
descobertas, com a perspectiva de obtengao de grandes carregamentos
de ouro € prata. Os espanhdis trataram de apropriar-se de riquezas que
estavam sob controle direto das populagdes autéctones. Isso requeria que
desde cedo eles adentrassem pelo interior caga de tesouros, jazidas ou
simplesmente de objetos (em uso pelos indigenas) de extraordinario valor
mercantil. Tanto para tais expedigdes quanto para o estabelecimento de
fortificagGes e cidadelas de apoio era exigida uma extensa mao de obra
indigena. Era a busca de riquezas que conduzia ao dominio dos nativos
ao controle do territorio, A Espanha substituia as campanhas militares
contra os mouros pela expansdo em terras da América, pois em 1492 era
celebrada igualmente a queda de Granada e a descoberta da América.
Portugal ja estava com suas fronteiras definidas desde 1249, possuin-
‘culo XV uma classe de comerciantes emancipada
dos controles feudais e bastante forte nas cidades de Lisboa e Porto.>’ A
do ja no comego do
colonizagao portuguesa das ilhas do Atlantico e o ciclo das grandes na-
vegagoes constituiriam na realidade um “expansionismo preemptivo”,”®
177
PUCRS/BIBLIOTECA CENTRAL — COPIA NOS TERMOS DA LEI 9.610/1998 E LE! 10.696/2003.
© BRASIL COLONIAL - VOL. 1
com a passagem do Cabo da Boa Esperanga, a descoberta do caminho
maritimo para as Indias (1498) e o “achamento” do Brasil.
A experiéncia portuguesa na América foi muito diversa da espanhola,
Alusées a metais preciosos nao se confirmaram ao longo de quase dois
séculos. O objetivo que movia a colonizagao portuguesa no século XV]
“nfo eram terras, mas o Império sobre 0 comércio maritimo”.” A con.
quista de territérios, que foi um segundo momento na India e também,
no Brasil,** era apenas um meio de assegurar a supremacia maritima,
assim como metais preciosos poderiam vir a ser um facilitador.
Logo na primeira expedicao de reconhecimento, comandada por
Goncalo Coelho em 1501, a riqueza da nova terra foi identificada como
© pau-brasil, arvore que possuia um similar asidtico e da qual se extraig
a tintura para a indistria de tecidos. Era encontrado com abundancia
em todo 0 litoral, mas ao invés de transporta-lo in natura melhor seria
la. Toda a produgao dependeria
preparar a madeira antes de embarca:
de uma relaco amistosa com os indigenas, nao apenas para assegurar
a troca, mas sobretudo para 0 abate das arvores (na escala desejada) e 9
seu aparelhamento, o que exigia a incorporagao pelos nativos de instru-
mentos de metal e novas técnicas de trabalho. As autoridades coloniais
(feitores, governadores, capitaes) deveriam ter um bom relacionamento
com os indigenas e os “langados” (degredados, desertores ou naufragos)
desempenhariam importante papel.
Mas os portugueses logo tiveram concorrentes. Em 1504, aportou
no Brasil a expedigao de Binot Paulmier de Gonneville, que se dirigia
ao Oriente, mas aqui permaneceu por varios meses no litoral de Santa
Catarina. No retorno, foi atacada por piratas e s6 um pequeno grupo
de tripulantes conseguiu escapar, chegando em maio de 1505 ao porto
de Honfleur, na Normandia. Entre os sobreviventes estava Essomeric,
filho do cacique carij6 Arosca. Os relatos dos tripulantes sobre as gentes
€ os produtos da nova terra logo despertaram o interesse de homens de
negocio da Normandia e da Bretanha, preocupados em abastecer de
corantes os centros gauleses de produgao de tecidos. Os armadores de
Rouen, Dieppe, Harfleur, Honfleur e Caen, na Normandia, e de Brest
178
PUCRS/BIBLIOTECA CENTRAL — COPIA NOS TERMOS DA LE! 9.610/1998 E LEI 10.695/2003.
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- História Social Do Conhecimento - Capítulo 2Document36 pagesHistória Social Do Conhecimento - Capítulo 2BRUNO Lovera MarostegaNo ratings yet
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Um Olhar Sobre o Etnocentrismo A Luz Do Filme - o Menino Do Pijama ListradoDocument7 pagesUm Olhar Sobre o Etnocentrismo A Luz Do Filme - o Menino Do Pijama ListradoBRUNO Lovera MarostegaNo ratings yet
- História Da Filos - Mod.IDocument3 pagesHistória Da Filos - Mod.IBRUNO Lovera MarostegaNo ratings yet
- 2020 Missões PUCRS Palestra Lizete OliveiraDocument126 pages2020 Missões PUCRS Palestra Lizete OliveiraBRUNO Lovera MarostegaNo ratings yet
- Anexo B - Discurso de Hitleer Aos Jovens AlemãesDocument2 pagesAnexo B - Discurso de Hitleer Aos Jovens AlemãesBRUNO Lovera MarostegaNo ratings yet
- Contexto Das TCCs 2022Document13 pagesContexto Das TCCs 2022BRUNO Lovera MarostegaNo ratings yet
- Cronistas e Viajantes Sec XVIIDocument12 pagesCronistas e Viajantes Sec XVIIBRUNO Lovera MarostegaNo ratings yet
- Edital PRP 2023Document10 pagesEdital PRP 2023BRUNO Lovera MarostegaNo ratings yet
- Guia Acadêmico 2020 - V4.3 1Document108 pagesGuia Acadêmico 2020 - V4.3 1BRUNO Lovera MarostegaNo ratings yet
- 15202-04 - Pré-História 1.2018 CronogramaDocument5 pages15202-04 - Pré-História 1.2018 CronogramaBRUNO Lovera MarostegaNo ratings yet
- A Produção Charqueadora e Mão Obra Servil Jorge Eusébio AssumpçãoDocument8 pagesA Produção Charqueadora e Mão Obra Servil Jorge Eusébio AssumpçãoBRUNO Lovera MarostegaNo ratings yet
- Aula 07.06 Amanda BothDocument29 pagesAula 07.06 Amanda BothBRUNO Lovera MarostegaNo ratings yet
- A Forma o Do Mundo ModernoDocument31 pagesA Forma o Do Mundo ModernoBRUNO Lovera MarostegaNo ratings yet
- Terrasonambula MiacoutoDocument9 pagesTerrasonambula MiacoutoBRUNO Lovera MarostegaNo ratings yet
- 5142-Texto Do Artigo-16467-1-10-20090403Document2 pages5142-Texto Do Artigo-16467-1-10-20090403BRUNO Lovera MarostegaNo ratings yet
- Lista de Carros 99comfort POADocument1 pageLista de Carros 99comfort POABRUNO Lovera MarostegaNo ratings yet
- Francisco Paulo de Almeida Barão de Guaraciaba: Reflexões Biográficas e Contexto HistóricoDocument132 pagesFrancisco Paulo de Almeida Barão de Guaraciaba: Reflexões Biográficas e Contexto Históricojoseoliv0No ratings yet
- Felicidade e Autoconhecimento Imagens AbensonhadasDocument12 pagesFelicidade e Autoconhecimento Imagens AbensonhadasBRUNO Lovera MarostegaNo ratings yet
- História de Moçambique - Aula 4Document18 pagesHistória de Moçambique - Aula 4BRUNO Lovera MarostegaNo ratings yet
- Guia Dom QuixoteDocument65 pagesGuia Dom QuixoteBRUNO Lovera MarostegaNo ratings yet
- Roteiro para Solicitacao de IsencaoDocument4 pagesRoteiro para Solicitacao de IsencaoBRUNO Lovera MarostegaNo ratings yet
- 10314-Texto Do Artigo-68598-2-10-20130724Document21 pages10314-Texto Do Artigo-68598-2-10-20130724BRUNO Lovera MarostegaNo ratings yet