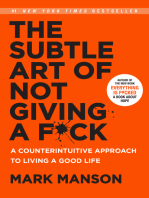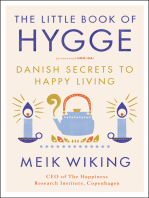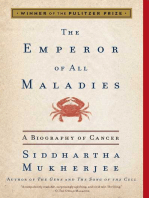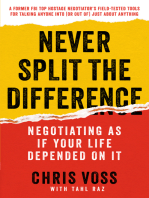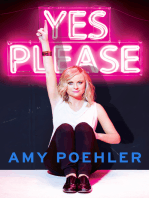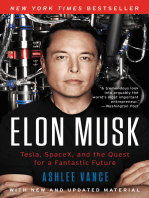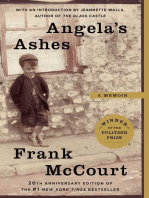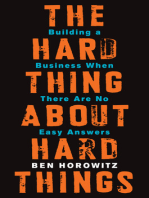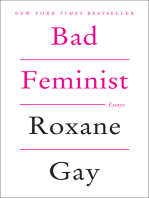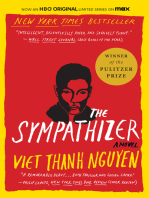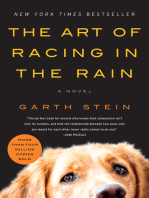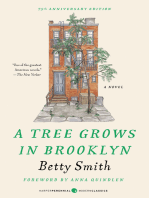Professional Documents
Culture Documents
Ser Afetado # de Jeanne Favret-Saada
Uploaded by
Eduardo Freitas0 ratings0% found this document useful (0 votes)
23 views7 pagesDiscute um pouco dos métodos relacionados à antropologia
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentDiscute um pouco dos métodos relacionados à antropologia
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
23 views7 pagesSer Afetado # de Jeanne Favret-Saada
Uploaded by
Eduardo FreitasDiscute um pouco dos métodos relacionados à antropologia
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 7
“Ser afetado”, de Jeanne Favret-Saada*
TRADUGAO
PAULA Siquetra
REVISKO
‘Tanta Srovze Lima
‘Mestranda em Antropologia Social pelo PPGAS/
MNIUFRYJ e pesquisadora de grupos cultur
politica e religiio em Nilo Pecanha, no Baixo
Sul da Bahia.
Meu trabalho sobre a feitigaria no Bocage
iderar a nogio de
afeto, ¢ a pressentir o interesse que haveria em
trabalhé-la: primeiro, para aprender uma di
mensio central do trabalho de campo (a mo-
dalidade de ser afetado); depois, para fazer uma
antropologia das terapias (tanto “selvagens”
cas” ocidentais); e final-
mente, para repensar a antropologia.
Com efeito, minha experiéncia de cam-
po com o desenfeitigamento, e, em seguida,
minha experigncia com a terapia analitica le-
varam-me a por em questo 0 tratamento pa-
radoxal do afeto na antropologia: em geral, os
autores ignoram ou negam seu lugar na expe-
ia humana. Quando o reconhecem, ou é
para demonstrar que os afetos sio 0 mero pro-
duro de uma construgio cultural, ¢ que no
tém nenhuma consisténcia fora dessa constru-
io, como manifesta uma abundante literatura
francés levou-me a recon
exéticas, como “cienti
rignci
anglo-saxa; ou € para votar o afeto ao desapa-
recimento, atribuindo-lhe como tinico destino
possivel o de passar para o registro da represen-
tagio, como manifesta a etnologia francesa ¢
também a psicanilise. ‘Trabalho, 20 contririo,
com a hipétese de que a eficicia cerapéutica,
quando ela se dé, resulta de um certo trabalho
realizado sobre 0 afeto nao representado.
* FAVRETSAADA, Jeanne, 1990, “Bue Afecté”
In; Gradbiva: Reoue dHisoire et dArchives: de
Anthropologie, 8. pp. 3-9.
cadernos de campo n. 13: 155-161, 2005
Professora Doutora de Antropologia pelo
ICHF/UFF.
De um modo mais geral, meu trabalho poe
em causa o fato de que a antropologia acha-se
acantonada no estudo dos aspectos intclectu-
ais da experiéncia humana, nas produgées cul-
turais do “entendimento”, para empregar um
termo da filosofia classica. E ~ parece-me — ur-
gente, reabilitar a velha “sensibilidade”, visto
que estamos mais bem equipados para abordé-
la do que os filésofos do século XVII.
Inicialmente, valem algumas reflex6es sobre
0 modo como obtive minhas informagoes de
campo: néo pude fazer outra coisa a nao ser
aceitar deixar-me afetar pela feitigaria, e
tci_um dispositive metodolégico tal que me
permitisse claborar um certo saber posterior-
mente. Vou mostrar como esse dispositive nao
cra nem observagio participate, nem (menos
ainda) empatia.
Quando viajei para 0 Bocage, em 1968, ha-
via uma abundante literatura etnogeéfica sobre
feiticaria, composta de dois conjuntos de textos,
heterogéneos e que se ignoravam mutuamente:
aquele dos folcloristas europeus (que se tinham
recentemente condecorado com o titulo vanta-
joso de “etndlogos”, embora nio tivessem mu-
dado em nada sua forma de wabalhar), e aquele
dos antropélogos anglo-saxdes, sobretudo afri-
canistas ¢ funcionalistas.
Os folcloristas europeus nao tinham nenhum
conhecimento direto da feitigaria rural: seguindo
as prescrigdes de Van Gennep, cles praticavam,
investigagbes regionais, encontrando-se com as
ado-
156 | rrapugo DE PAULA SIQUEIRA
clites locais (0 grupo menos bem situado para sa-
ber alguma coisa sobre o assunto) ou enviando-
thes questiondrios, interrogando também alguns
camponeses para saber se “ainda se acreditava
nisso”. As respostas recebidas eram tao uniformes
quanto as questées: “aqui, nao, mas na aldeia vi-
is atrasados. ..”. Seguiam-se, ainda,
algumas anedotas céticas ridicularizando os crer
tes. Para ir direto ao ponto, digamos que os etné-
logos franceses, desde que se tratasse de feitiaria,
dispensavam-se tanto de observar como de par-
ticipar (situagio que permanece, alids, a mesma,
ainda em 1990). Os antropélogos anglo-saxdes
pretendiam, ao menos, por em pritica a “obser-
vacio participante”, Levei um certo tempo para
deduzir dos seus textos sobre feitigaria que con-
tetido empirico podia-se atribuir a essa curiosa
expresso, Em retérica, isso se chama oximoro:
observar participando, ou participar observando,
€ quase tio evidente como tomar um sorvete fer-
vente, No campo, meus colegas pareciam combi-
géneros de comportamento: um, ativo,
de trabalho regular com informantes pagos, os
quais eles interrogavam ¢ observavam; 0 outro,
passivo, de observagio de eventos ligados & fei-
ticaria (disputas, consultas a adivinhos...). Ora,
© primeiro comportamento nao pode de forma
alguma ser designado pelo termo “participagio”
(0 informante, ao contririo, é quem parece “par-
ticipar” do trabalho do etndgrafo); ¢, quanto a0
segundo, “participar” equivale tentativa de estar
14, sendo essa participagio o minimo necessirio
para que uma observacio seja possivel
Portanto, 0 que contava, para esses antropé-
zinha, sio u
nar dois
logos, nao era a participagdo, mas a observacao.
Desta, eles tinham, alids, uma concepgio bas-
tante estreita: sua andlise da feiticaria reduzia-
se Aquelas das acusagoes, porque, diziam cles,
so os Gnicos “fatos’ que um etndgrafo pode
“observar”. Acusar é, para cles, um “compor-
tamento”, é até mesmo o comportamento por
cexceléncia da feitigaria, jé que € 0 tinico empiri
camente verificavel, todo o resto sendo somen-
te erros ¢ imaginagdes nativas. (Ressaltemos de
passagem que, para esses autores, falar nao é
um comportamento, nem um ato suscetivel
de ser observado). Esses antropélogos davam
respostas precisas a uma tinica questo — quem
acusa quem de o ter enfeitigado em dada socie-
dade? ~ mas ficavam mudos quanto a todas as
outras ~ como se entra numa crise de feitigaria?
Como se sai dela? Quais sio as idéias, as expe-
rigncias ¢ as priticas dos enfeitigados ¢ dos seus
magos? Nem mesmo um autor to minucioso
quanto Turner permite sabélo, ¢, para se fazer
uma idéia disso, € preciso voltar & leitura de
Evans-Pritchard (1937).
De mancira geral, havia nessa literatura um
perpétuo deslizamento de sentido entre vé-
tios termos que teria sido melhor distinguir: a
“verdade” vinha escorrer sobre 0 “real”, este,
sobre o “observavel” (aqui, havia uma confu-
so suplementar entre o observivel como saber
empiricamente verificavel, ¢ 0 observavel como
saber independente das declaragbes. nativas),
depois sobre 0 “fato”, 0 “ato” ou o “compor-
tamento”. Essa nebulosa de significagoes tinha
por Ginico trago comum 0 fato de opor-se a seu
simétrico: 0 “erro” escortia sobre o “imaginé-
rio", sobre o “inobservavel”, sobre a “crenga” ¢,
por fim, sobre a “palavra” nativa.
Alliés, nao hé nada mais incerto que 0 esta-
tuto da palavra nativa nesses textos: As vezes, ele
€ dlassificado entre os comportamentos (acu-
sar) ¢, &s vezes, entre as proposigdes falsas (in-
vocar a feitigaria para explicar uma doenga). A
atividade de fala — enunciagio — é escamoteada,
nao restando mais do discurso nativo que seu
propria
mente tratados como proposigées ¢ a atividade
simbélica reduz-se a emitir proposicées falsas.
Como se pode ver, todas essas confusdes gi-
ram em torno de um ponto comum: a desqua-
lificagao da palavra nativa, a promogao daquela
do ctnégrafo, cuja atividade parece consistir
em fazer um desvio pela Africa para verificar
resultado, isto é, os enunciados sao i
cademos de campo « n. 13 + 2005
que apenas cle detém... nao se sabe bem o qué,
um conjunto de nogées politéticas, equivalen-
tes para clea verdade.
Voltemos a minha pesquisa sobre a feitigaria
no Bocage. Lendo essa literatura anglo-sax4 para
ajudar em meu trabalho de campo, fiquei im-
pressionada com uma curiosa obsessio presen-
te em todos os prefiicios: os autores (¢ 0 grande
Evans-Pritchard nao era exce¢o) negavam regu-
larmente a possibilidade de uma feitigaria rural
na Europa de hoje. Ora, néo somente eu estava
dentro dela, como a feitigaria era amplamente
verificada em varias outras regides, ao menos
pelos folcloristas europeus. Por que um erro em-
pirico tao evidente, tao grande ¢ tio comparti-
thado? Sem diivida, tratava-se de uma tentativa
absurda de realizar novamente a Grande Divisio
entre “cles” ¢ “nds” (“nds” também j acredita-
mos em feiticeiros, mas foi hd trezentos anos,
quando “nés” éramos “eles”), ¢ assim proteger
6 etndlogo (esse ser a-cultural, cujo eérebro so-
mente conteria proposigées verdadeiras) contra
qualquer contaminagio pelo seu objeto.
‘Talvez isso fosse possivel na Africa, mas eu
estava na Franga. Os camponeses do Bocage
recusaram-se obstinadamente a jogar a Grande
Divisio comigo, sabendo bem onde
veria terminar: cu ficaria com 0 melhor lugar
(aquele do saber, da ciéncia, da verdade, do
real, quicé algo ainda mais alto), ¢ cles, com o
pior. A Imprensa, a ‘Televisio, a Igreja, a Esco-
la, a Medicina, todas as instincias nacionais de
controle ideolégico 0s colocavam 4 margem da
ago sempre que um caso de feitigaria termi
nava mal: durante alguns dias, a feitigaria era
apresentada como o cimulo do campesinato, ¢
este como 0 ctimulo do atraso ou da imbecil
dade. Assim, as pessoas do Bocage, para proibir
© acesso a uma instituigio que lhes prestava ser-
vigos to eminentes, ergueram a sélida barreira
do mutismo, com justificages do género: “Fei
tico, quem nao pegou no pode falar disso” ou.
“a gente nao pode falar disso com cles”.
so de-
cademos de campo + n. 13 + 2005
sem aREIADO, DE JEANNE Havret-saapa | 157
Pois entao, cles falaram disso comigo somen-
te quando pensaram que eu tinha sido “pega”
pela feiticaria, quer dizer, quando reagdes que
escapavam a0 meu controle thes mostraram
que estava afetada pelos efeitos reais — freqiien-
temente devastadores — de tais falas ¢ de tais
atos rituais. Assim, alguns pensaram que eu era
uma desenfeitigadora e dirigiram-se até a mim
para solicitar o oficio; outros pensaram que cu
stava enfeiticada © conversaram comigo para
me ajudar a sair desse estado. Com excegio
dos notéveis (que falavam voluntariamente de
feitigaria, mas para desqualificé-la), ninguém
jamais teve a ideia de falar disso comigo sim-
plesmente por cu ser etnégrafa.
Eu mesma nio sabia bem se ainda era et-
négrafa. Certamente, nunca acreditei ser uma
proposigio verdadeira que um feiticeiro pudesse
me prejudicar fazendo feiticos ou pronuncian-
do encantamentos, mas duvide que os proprios
camponeses tenham algum dia acreditado nis-
so dessa maneira. Na verdade, eles exigiam de
mim que cu experimentasse pessoalmente por
minha prépria conta — nao por aquela da ci-
éncia ~ 0s efeitos reais dessa rede particular de
comunicagéo humana em que consiste a feiti-
aria. Dito de outra forma: eles queriam que
accitasse entrar nisso como parceira ¢ que af
investisse os problemas de minha existéncia de
entio. No comego, nao parei de oscilar entre
esses dois obsticulos: se eu “participasse”, 0
trabalho de campo se tornaria uma aventura
pessoal, isto é, 0 contririo de um trabalho; mas
se tentasse “observar”, quer dizer, manter-me &
distancia, nao acharia nada para “observar”. No
primeiro caso, meu projeto de conhecimento
estava ameagado, no segundo, arruinado.
Embora, durante a pesquisa de campo, nio
soubesse 0 que estava fazendo, ¢ tampouco o
porque, surpreendo-me hoje com a clareza das
minhas escolhas metodolégicas de entio: tudo
se passou como sc tivesse tentado fazer da “par-
ticipagio” um instrumento de conhecimento.
158 | rrapugéo DE PAULA SIQUEIRA
Nos encontros com os enfeitigados ¢ desenfeiti
gadores, deixci-me afetar, sem procurar pesqui-
sar, nem mesmo compreender ¢ reter. Chegando
em casa, redigia um tipo de crdnica desses even-
tos enigméticos (as vezes aconteciam situagbes
carregadas de uma tal intensidade que me era
impossivel fazer essas notas a posteriori). Esse
didrio de campo, que foi durante longo tempo
meu tinico material, tinha dois objetivos:
—O primeiro eraa curto prazo: tentar com-
preender o que queriam de mim, achar uma
resposta a questOes urgentes do género: “Por
quem X me toma?” (uma enfeitigada, uma
desenfeiticadora), “O que Y quer de mim?”
(que cu o desenfeitice...). Ex
em achar uma boa resposta, jé que no encon-
tro seguinte, me pediriam para agir. Mas, em
geral, ndo tinha os meios necessirios para isso:
a literatura etnogréfica sobre feitigaria, tanto
anglo-sax4 quanto francesa, nao permitia que
se representasse esse sistema de lugares em que
consiste a feiticaria. Eu estava justamente expe-
rimentando esse sistema, expondo-me a mim
mesma nele.
— O outro objetivo era a longo prazo: por
mais que vivesse uma aventura pessoal fasci-
nante, em nenhum momento resignei-me a
nao compreender. Na época, alids, na
muito para que ou por que queria poder com-
preender, se para mim, para a antropologia
ow para a consciéncia européia. Mas eu orga-
nizava meu diério de campo para que servisse
«0 de conhecimento:
tinha interesse
sabia
mais tarde a uma opera
minhas notas eram de uma preciséo maniac
para que eu pudesse, mais tarde, realucinar os
eventos, € entio — como eu nao estaria mai:
“enfeiticada”, apenas “reenfeitigada’’ — compre-
endé-los, eventualmente.
Os leitores de Corps pour Corps terao nowa-
do que nao hé nada neste didrio que 0 asseme-
Ihe aqueles de Malinowski ou de Métraux. O
diario de campo era para cles um espaco intimo
onde podiam enfim se deixar livres, reencon-
trar-se fora das horas de trabalho, durante as
quais cram obrigados a representar diante dos
nativos. Em suma, um espago de recreagio pes-
soal, no sentido lieral do termo. As considera-
bes privadas ou subjetivas esto, a0 contrario,
ausentes do meu proprio diario, exceto se tal
evento de minha vida pessoal tivesse sido evo-
cado com meus interlocutores, quer dizer, se
tivesse sido incluido na rede de comunicacio
da feitigaria.
Uma das situagdes que vivia no campo era
praticamente inenarrdvel: era tao complexa que
desafiava a rememoracao, ¢ de todos os modos,
afetava-me demais. ‘rata-se das sessdes de de-
senfeiticamento a que assistia, seja como enfei-
tigada (minha vida pessoal estava passando pelo
crivo ¢ eu era instada a modificé-la), seja como
testemunha dos clientes, mas também da tera-
peuta (cu cra constantemente instada a intervir
bruscamente). No comeso, tomei muitas notas
depois de chegar em casa, mas era muito mais
para acalmar a angtistia de ter-me pessoalmente
engajado. Uma vez que aceitei ocupar o lugar
que me tinha sido designado nas sessdes, prati-
camente nao tomei mais notas: tudo se passava
muito depressa, deixava-as correr sem por-me
quest6es, ¢, da primeira sessao até a ultima, nao
tinha compreendido praticamente nada do que
tinha acontecido, Mas registrei discretamente
umas trinta sessGes das aproximadamente du-
zentas a que assisti para constituir um material
sobre o qual pudesse trabalhar mais tarde.
‘A fim de evitar os mal entendidos, gostaria
de ressaltar o seguinte: aceitar “participas” e ser
afetado no tem nada a ver com uma operacio
de conhecimento por empatia, qualquer que
seja o sentido em que se entende esse termo,
Vou considerar as duas acepgées principais ¢
mostrar que nenhuma delas designa o que pra-
tiquei no campo.
Segundo a primeira acepcao (indicada na
Encyclopedia of Prychology), sentir empatia con-
iia, para uma pessoa, em “vicariously expe-
cademos de campo « n. 13 + 2005
riencing the feelings, perceptions and thoughts of
another”', Por dcfinigio, esse género de empa-
tia sup6e, portanto, a distancia: & justamente
porque nao se esté no lugar do outro que se
aginar © que seria estar
tenta representa out
4, © quais “sensagées, percepgdes e pensamen-
tos” ter-se-ia envio, Ora, eu estava justamente
no lugar do nativo, agitada pelas “sensagdes,
percepcées ¢ pelos pensamentos” de quem ocu-
pa um lugar no sistema da feitigaria, Se afirmo
que é preciso accitar ocupié-lo, em vez de ima-
ginar-se ki, é pela simples razao de que o que ali
se passa é literalmente inimaginavel, sobretudo
para um etnégrafo, habituado a trabalhar com
representagdes: quando se esta em um tal lugar,
&se bombardeado por intensidades especificas
(chamemo-las de afetos), que geralmente nao
so significaveis. Esse lugar ¢ as intensidades
que Ihe sao ligadas tém entao que ser experi
mentados: é a tinica maneira de aproximé-los.
Uma segunda acepgdo de empatia — ein-
fiblung, que poderia ser traduzida por co-
munhao afetiva — insiste, ao contrario, na
instantaneidade da comunicagio, na fusio com
© outro que se atingiria pela identificagio com
cle. Essa concepgio nada diz sobre © mecanis-
mo da identificacdo, mas insiste em seu resu
tado, no fato de que ela permite conhecer os
afetos de outrem.
Afirmo, 20 contrério, que ocupar tal lugar
no sistema da feitigaria no me informa nada
sobre os afetos do outro; ocupar tal lugar afe~
tame, quer dizer, mobiliza ou modifica meu
prdprio estoque de imagens, sem contudo ins-
truir-me sobre aquele dos meus parceiros.
Mas ~e insisto sobre esse ponto, pois é aqui
que se rorna eventualmente possivel 0 género
de conhecimento a que viso -, 0 proprio fato
de que accito ocupar esse lugar ¢ ser aferada
por ele abre uma comunicacio especifica com
0s nativos: uma comunicacao sempre involun-
Nota da tradutora: “experimentar, de uma forma indi-
reba, as sensagées, percepcéese pensamentos do outro”.
cademos de campo + n. 13 + 2005
sen aretap0, os jeanne ravner-saana | 159
tiria ¢ desprovida de intencionalidade, ¢ que
pode ser verbal ou nio.
Quando € verbal, acontece mais ou menos
isto: alguma coisa me impele a falar (di
o afeto nao representado), mas nao sci o qué, €
0 me impele a dizer jus-
tampouco sei por qui
tamente aquilo, Por exemplo, digo a. um cam-
ponés, em eco a alguma coisa que ele me disse:
“Pois é cu sonhei que...”, ¢ cu nao teria como
explicar esse “pois é”, Ou entéo meu interlocu-
tor observa, sem fazer qualquer ligasio: “Outro
dia, fulano Ihe disse que... Hoje, voce esté com
essas erupges no rosto”. O que se diz af, impli-
citamente, éa constatagao de que fui afetada: no
primeiro caso, cu propria fago essa constatacio,
no segundo, é um outro quem a faz.
Quando essa comunicagio nao é verbal, o
que ¢ entao que é comunicado ¢ como? Tra-
tase justamente da comunicagio imediata que
0 termo einfithlung evoca. Apesar disso, 0 que
me é comunicado é somente a intensidade de
que © outro estd afetado (em termos técnicos,
falar-se-ia de um quantum de afeto ou de uma
carga energética). As imagens que, para ele ¢
somente para ele, so associadas a essa intensi-
dade escapam a esse tipo de comunicacao, Da
minha parte, encaixo essa carga energética de
um modo meu, pessoal: tenho, digamos, um
distirbio provisério de percepcio, uma quase
alucinacio, ou uma modificagio das dimensbes;
ou ainda, estou submersa num sentimento de
pinico, ou de angiistia macica. Nao é neces-
sirio (¢, alids, nao é freqiiente) que esse seja 0
caso do mew parceiro: ele pode, por exemplo,
estar completamente inafetado na aparéncia,
Suponhamos que nao lute contra esse esta-
do, que © receba como uma comunicagio de
alguma coisa que nio saiba 0 que
impele a falar, mas da forma evocada anterior
mente (“entio, eu sonhei que...”), ou a calar-
me. Nesses momentos, se for capaz de esquecer
que estou em campo, que estou trabalhando, se
for capaz de esquecer que tenho meu estoque
6
. Isso me
160 | rrapug’o DE PAULA SIQUEIRA
de questées a fazer... se for capaz de dizer-me
que a comunicagio (ctnogrifica ou nao, pois
no € mais esse 0 problema) esté precisamen-
te se dando, assim, desse modo insuportavel ¢
incompreensivel, entio estou direcionada para
uma variedade particular de experiéncia huma-
na —ser enfe
ticado, por exemplo ~ porque por
ela estou afetada.
Ora, entre pessoas igualmente afetadas
por estarem ocupando tais lugares, acontecem
coisas ’s quais jamais € dado a um etnégrafo
assist, fala-se de coisas que os etnégrafos nio
falam, ou entéo as pessoas se calam, mas trata-
se também de comunicacéo. Experimentando
as intensidades ligadas a tal lugar, descobre-se,
aliés, que cada um apresenta uma espécie par-
ticular de objetividade: ali s6 pode acontecer
uma certa ordem de eventos, nao se pode ser
afetado senao de um certo modo.
Como se vé, quando um etnégrafo aceita
ser afetado, isso nao implica identificar-se com
© ponto de vista native, nem aproveitar-se da
experiéncia de campo para exercitar seu narci
sismo. Aceitar ser afetado supée, todavia, que
se assuma o risco de ver seu projeto de conhe-
cimento se desfazer. Pois se 0 projeto de conhe-
cimento for onipresente, nao acontece nada.
Mas se acontece alguma coisa ¢ se 0 projeto
de conhecimento nio se perde em meio a uma
aventura, entio uma etografia é possivel. Ela
presenta, creio eu, quatro tragos distintivos:
1. Seu ponto de partida é 0 reconhecimen-
to de que a comunicagio etmogrifica ordinéria
—uma comunicagao verbal, voluntaria ¢ inten-
ional, visando & aprendizagem de um sistema
de representagoes nativas — constit
mais pobres variedades da comunicacéo huma-
na. Ela € especialmente imprépria para forne-
cer informagées sobre os aspectos nao verbais ¢
involuntérios da experiéncia humana.
Noto, alias, que, quando um etnégrafo
lembra-se do que houve de tinico cm sua esta-
da no campo, cle fala sempre de situagdes em
i uma das
que nao estava em condigoes de praticar essa
comunicagéo pobre, pois estava invadido por
uma situagio eou por seus préprios afetos.
Ora, nas etnografias, essas situagées, apesar de
banais ¢ recorrentes, de comunicagio involun-
tdria ¢ desprovida de intencionalidade nio sio
jamais consideradas como aquilo que sio: as
“informagGes” que elas trouxeram ao etndgrafo
aparecem no texto, mas sem nenhuma referén-
cia a intensidade afetiva que as acompanhava
na realidade; ¢ essas “informagées” sio coloca-
das cxatamente no mesmo plano que as outras,
aquelas que s4o produzidas pela comunicagao
voluntéria e intencional. Poder-se-ia di
clusive, que virar um ctnégrafo profissional é
tornar-se capaz de maquiar automaticamente
todo episbdio de sua experiéncia de campo em
uma comunicagio voluntitia ¢ intencional vi-
sando ao aprendizado de um sistema de repre-
sentages nativas.
r, in
Eu, ao contrario, escolhi conceder estatuto
epistemoldgico a essas situagbes de comunica-
cdo involuntéria ¢ nao intencional: é voltando
sucessivamente a elas que constituo minha et
nografia.
2. Segundo trago distintivo dessa etnogra-
fia: ela supde que o pesquisador tolere viver em
um tipo de schize. Conforme 0 momento, ele
faz, justica aquilo que nee ¢ afetado, maleavel,
modificado pela experiéncia de campo, ou en-
tdo aquilo que nele quer registrar essa experién-
cia, quer compreendé-la e fazer dela um objeto
de ciéncia.
3. As operagoes de conhecimento 2
estendidas no tempo e separadas umas das ou-
trast no momento em que somos mais aferados,
indo podemos narrar a experi
em que a narramos néo podemos compreendé-
la, O tempo da aniiise viré mais tarde.
4, Os materiais recolhidos sao de uma den-
sidade particular, e sua andlise conduz inevita-
velmente a fazer com que as certezas cientificas
mais bem estabelecidas sejam quebradas.
yam-se
ncia; no momento
cademos de campo « n. 13 + 2005
Consideremos, por exemplo, os rituais de
desenfeitigamento. Sc nio tivesse sido assim
afetada, se nao tivesse assistido a tantos epi-
sédios informais de feiticaria, teria dado aos
rituais uma importincia central: primeiro,
porque sendo etnégrafa, sou levada a privile-
giar a anilise do s
08 relatos tipicos de feiticaria thes dao um lugar
essencial. Mas, por ter ficado tanto tempo en-
tre os enfeiticados ¢ entre os desenfeiticadores,
em sessées ¢ fora de sessdes, por ter escutado,
além dos discursos de conveniéncia, uma gran-
de variedade de discursos espontineos, por ter
experimentado tantos afetos associados a tais
momentos particulares do desenfeiticamento,
por ter visto fazerem tantas coisas que nao cram
do ritual, todas essas experiéncias fizeram-me
compreender isso: o ritual € um elemento (o
mais espetacular, mas nao o tinico) gracas a0
qual o desenfeitigador demonstra a existéncia
de “forgas anormais”, as implicacdes mortais da
crise que seus clientes softem e a possibilidade
de vitéria. Mas essa vitéria (nao podemos sobre
esse assunto falar de “eficicia simbélica”) supée
que se coloque em pritica um dispositivo tera-
péutico muito complexo antes e muito tempo
imbolismo; segundo, porque
cademos de campo + n. 13 + 2005
sen aretapo, ba jeanne ravner-stapa | 161
depois da efetuacao do ritual. Esse dispositive
pode, é claro, ser descrito ¢ compreendido, mas
somente por quem se permitir dele se aproxi
‘mar, quer dizer, por quem tiver corrido o risco
de “participar” ou de ser afetado por ele: em
caso algum ele pode ser “observado”.
Para finalizar, uma palavra sobre a ontologia
implicita de nossa disciplina. Em Meurtre dans
[Université Anglaise (Ane, n° 21, abril-junho,
1985), Paul Jorion mostra que a antropologia
anglo-saxi pressupde, entre outras coisas, uma
transparéncia essencial do sujeito humano a
si mesmo. Ora, minha experiéncia de campo
— porque ela deu lugar 2 comunicagao nao
verbal, nao i
tencional ¢ involuntari:
, a0 sur
gimento ¢ ao livre jogo de afctos desprovidos
de representagao — levou-me a explorar mil as-
pectos de uma opacidade essencial do sujeito
frente a si mesmo. Essa nogio é aliés, velha
como a tragédia, € a ela sustenta também, des-
de hé um século, toda a literatura terapéutica.
Pouco importa 0 nome dado a essa opacidade
(“inconsciente” etc.): 0 principal, em particular
para uma antropologia das terapias, é poder da-
qui para frente postulé-la e colocé-la no centro
de nossas anilises.
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5794)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (400)
- Vista Do Resenha Da Obra Uberização - A Nova Onda Do Trabalho PrecarizadoDocument5 pagesVista Do Resenha Da Obra Uberização - A Nova Onda Do Trabalho PrecarizadoEduardo FreitasNo ratings yet
- Zhou Rig Over Nanc ADocument12 pagesZhou Rig Over Nanc AJúlia Fonseca de CastroNo ratings yet
- TEORIA CRITICA Apresentacao Do DossieDocument7 pagesTEORIA CRITICA Apresentacao Do DossieEduardo FreitasNo ratings yet
- CAPÍTULO - DOMINGUES, J. M. - A Cidade # Racionalização e Liberdae em Max Weber in Jessé Souza - A Atualidade de WeberDocument15 pagesCAPÍTULO - DOMINGUES, J. M. - A Cidade # Racionalização e Liberdae em Max Weber in Jessé Souza - A Atualidade de WeberEduardo FreitasNo ratings yet
- ARTIGO - MARTINS, J. S. Oartesanato Intelectual Na Sociologia, 2013Document38 pagesARTIGO - MARTINS, J. S. Oartesanato Intelectual Na Sociologia, 2013Eduardo FreitasNo ratings yet
- ARTIGO - MARTINS, J. S. Oartesanato Intelectual Na Sociologia, 2013Document38 pagesARTIGO - MARTINS, J. S. Oartesanato Intelectual Na Sociologia, 2013Eduardo FreitasNo ratings yet
- LIVRO - RIOS, F. LIMA, M. (Orgs.) - Lélia Gonzáles# Por Um Femininino AfrolatinoamericanoDocument361 pagesLIVRO - RIOS, F. LIMA, M. (Orgs.) - Lélia Gonzáles# Por Um Femininino AfrolatinoamericanoEduardo Freitas100% (1)
- Neoliberalism oDocument307 pagesNeoliberalism oGinoJerezNo ratings yet
- ARTIGO - OLIVEIRA, P. R. - História Oral # Mais Que Uma Metodologia de PesquisaDocument13 pagesARTIGO - OLIVEIRA, P. R. - História Oral # Mais Que Uma Metodologia de PesquisaEduardo FreitasNo ratings yet
- Educação Ciências e Sociedade Leituras Bourdieusianas - LetrariaDocument362 pagesEducação Ciências e Sociedade Leituras Bourdieusianas - LetrariaEduardo Freitas100% (1)
- Marcuse. Marx e FreudDocument42 pagesMarcuse. Marx e FreudAriana MouraNo ratings yet
- Para A TESE Tabela-De-Conectivos1.png (740×1334)Document1 pagePara A TESE Tabela-De-Conectivos1.png (740×1334)Eduardo FreitasNo ratings yet
- Wilhelm Reich - Psicologia de Massas Do Fascismo PDFDocument297 pagesWilhelm Reich - Psicologia de Massas Do Fascismo PDFFernando Kaio100% (4)
- Discussão Sobre A Categoria de Vulnerabilidade SocialDocument23 pagesDiscussão Sobre A Categoria de Vulnerabilidade SocialEduardo FreitasNo ratings yet
- Entrevista Cualitativa y La Investigacio PDFDocument14 pagesEntrevista Cualitativa y La Investigacio PDFEduardo FreitasNo ratings yet
- Armand Mattelart - A GLOBALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃODocument193 pagesArmand Mattelart - A GLOBALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃOapi-3862195100% (1)
- O Gap Entre Pesquisa Educacional e A PráticaDocument18 pagesO Gap Entre Pesquisa Educacional e A PráticaEduardo FreitasNo ratings yet
- QUADRINHOS - Garfield Na SelvaDocument63 pagesQUADRINHOS - Garfield Na SelvaEduardo FreitasNo ratings yet
- ARTIGO - SALVADOR, D. S. C. O. - Reflexões e Análise Sobre o Processo de Precarização Do Trabalho Na Contemporaneidade, 2018Document26 pagesARTIGO - SALVADOR, D. S. C. O. - Reflexões e Análise Sobre o Processo de Precarização Do Trabalho Na Contemporaneidade, 2018Eduardo FreitasNo ratings yet
- Sobre Giroux Pedagogía FronterizaDocument6 pagesSobre Giroux Pedagogía FronterizaCamilo AndresNo ratings yet
- Artigo - A Escola Na Visão Dos Estudantes Da Eja 2016Document21 pagesArtigo - A Escola Na Visão Dos Estudantes Da Eja 2016Eduardo FreitasNo ratings yet
- LIVRO - SANTOS, D. Educaçao Precarizada,,2017 PDFDocument264 pagesLIVRO - SANTOS, D. Educaçao Precarizada,,2017 PDFEduardo FreitasNo ratings yet
- ARTIGO - Decifra-Me Ou Te Devoro - Modo de Produção Capitalista e Educação e Trabalho Educativo Educação em Análise, Londrina, V.2, n.1, P.03-22ago - Dez.2017Document16 pagesARTIGO - Decifra-Me Ou Te Devoro - Modo de Produção Capitalista e Educação e Trabalho Educativo Educação em Análise, Londrina, V.2, n.1, P.03-22ago - Dez.2017Eduardo FreitasNo ratings yet
- ARTIGO - PEREIRA. Juvenilização Da EJA Como Efeito Colateral Das Políticas de Responsabilização 2018Document26 pagesARTIGO - PEREIRA. Juvenilização Da EJA Como Efeito Colateral Das Políticas de Responsabilização 2018Eduardo FreitasNo ratings yet
- Metodo Teoria SocialDocument23 pagesMetodo Teoria SocialRaianeCarvalhoNo ratings yet
- ARTIGO - Trab e Educ # Elementos para Pensar A Fomentação Do Precariado Juvenil No Brasil Do Sec XXIDocument22 pagesARTIGO - Trab e Educ # Elementos para Pensar A Fomentação Do Precariado Juvenil No Brasil Do Sec XXIEduardo FreitasNo ratings yet
- Artigo Garnica 1Document38 pagesArtigo Garnica 1Eduardo FreitasNo ratings yet
- Anotações Contemporâneas em Teoria CríticaDocument166 pagesAnotações Contemporâneas em Teoria CríticaRenato Fonseca100% (1)
- Teoria Crítica Da Escola de FrankfurtDocument20 pagesTeoria Crítica Da Escola de FrankfurtMário J.R. Matos100% (3)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (537)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (895)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (838)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (588)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (73)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1090)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (344)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (121)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (821)