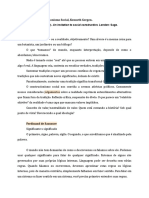Professional Documents
Culture Documents
Tornando Se Dialogico - Psicoterapia Ou Modo de Vida
Tornando Se Dialogico - Psicoterapia Ou Modo de Vida
Uploaded by
Pérola Souza0 ratings0% found this document useful (0 votes)
12 views22 pagesOriginal Title
2. Tornando Se Dialogico_ Psicoterapia Ou Modo de Vida
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
12 views22 pagesTornando Se Dialogico - Psicoterapia Ou Modo de Vida
Tornando Se Dialogico - Psicoterapia Ou Modo de Vida
Uploaded by
Pérola SouzaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 22
2. TORNANDO-SE DIALOGICO:
psicoterapia ou modo de vida?
Jaakko Seikkula
Apés 0 nascimento, a primeira coisa que aprendemos € a nos tor-
Zarmos participantes em didlogo. Nascemos nas relagGes ¢ estas relagdes
toram-se nossa estrutura. Intersubjetividade é a base da experiéncia hu-
mana ¢ 0 dialogo é 0 modo como a vivenciamos. Este artigo descreve o di-
lema de olhar para o dialogo como um modo de vida ou como um método
terapéutico. O contexto é 0 sistema psiquiatrico de didlogo aberto que foi
iniciado na Lap6nia Ocidental Finlandesa. O autor fazia parte de um grupo
que estava reorganizando a psiquiatria e depois se envolveu em muitos
tipos diferentes de projetos em Praticas dialdgicas, Ultimamente, 0 foco
no discurso deslocou-se para um olhar para o ser humano corporificado
no momento presente, especialmente em cenérios variados, Referindo-se
a estudos dos bons resultados em psicose aguda, a contribuigéo da pratica
dialogica enquanto recurso psicoldégico sera clarificada.
Fui convidado a eserever um artigo sobre didlogos abertos ou algum as-
sunto relacionado para 0 ANZJFT (The Australian and New Zeland Journal
of Family Therapy), 0 que me deixou embevecido. A proposta do editor era
escrever sobre como se tomar um terapeuta dialégico. Fiquei entusiasmado
com a possibilidade, mas ao mesmo. tempo um pouco confuso, pois falar sobre
dialogismo como modo ou método Psicoterapéutico nao me € confortavel. Eu
passei a enxergar didlogo ou dialogismo como um modo de vida que apren-
demos imediatamente apés o nascimento: Primeiro aprendemos a respirar —
inspirar e expirar; e logo depois aprendemos a ser um participante ativo em re-
lagGes dialégicas nas quais respondemos as expressées daqueles A nossa volta
€ desencadeamos ativamente suas respostas as nossas expressdes (BRATEN,
2007; TREVARTHEN, 2007). Como eu poderia ver este processo comum do
dia a dia como um método terapéutico? Correndo 0 risco de soar um pouco
hipécrita, eu vejo 0 diélogo simplesmente como algo que pertence a vida, nado
como um método terapéutico especial. E isto significa que todas as psicotera-
pias tém que ser dialégicas se pretendem ser bem-sucedidas em acarretar as
mudangas positivas que os psicoterapeutas procuram.
8 Pubjcado originaiments na revista The Austrian and New Zealand Journalof Family therapy, 32, 179-193,
Entao, se o leitor me der licenga, eu gostaria de comegar a abrir essa ques-
to mais detalhadamente. Sinceramente, eu entendo sim o motivo do convite e
quero muito explorar mais como os modos dialégicos de ser se tornaram para
mim a escolha que faz toda a diferenga na vida profissional ¢ na psicoterapia.
Em minha pratica profissional, 0 que se tornou mais importante foi a melhora
dos servigos para clientes que esto sofrendo crises graves como a psicose e
a depressao severa. Aplicar uma abordagem dialdgica significa mobilizar os
recursos psicolégicos do paciente e dos membros da familia. Ao entender as
escolhas feitas no processo, podemos tomar conhecimento do que a aborda-
gem dialégica tem para oferecer aos terapeutas, trabalhando com crises de
satide mental severas e outros tipos de situacdes desafiadoras.
A abordagem dialdgica na Finlandia esté no centro do que chama-
mos métodos de terapia especiais no tratamento psicoldgico. A seguir,
exploro o desenvolvimento de didlogos abertos na Lap6nia Ocidental, na
Finlandia, e entao descrevo a abordagem e a evidéncia de sua eficdcia a
partir de varios estudos cientificos,
De métodos de psicoterapia tnicos a integracao
Minha educagao basica foi em psicologia clinica e, desde o inicio — ou
mesmo antes do meu treinamento — eu tive um interesse inicial em proble-
mas psicéticos e esquizofrenia. Minha dissertag4o de mestrado ja havia
me envolvido em um projeto interessante conduzido pelo Professor Antero
Toskala sobre fatores de risco para a satide mental. Nés estudamos quais
fatores em idade pré-escolar poderiam ser usados para prever um alto risco
de desenvolvimento futuro de psicose.
Apés a obtengao do titulo de mestre, mudei-me para a Lapénia
Finlandesa para trabalhar no Hospital Keropudas. Nés éramos um grupo
pequeno, mas entusiasmado, de profissionais composto de dois médicos
(Jyrki Kerdinen e Birgitta Alakare), dois enfermeiros (Ilkka Vehkaperi e
Telma Hihnala) e dois ou trés psicdlogos (inicialmente eu mesmo e alguns
anos mais tarde, Kauko Haarakangas e Markku Sutela); todos interessados
em desenvolver uma abordagem centrada na familia para os problemas de
satide mental mais severos. Todos nds seguiamos a tradigao finlandesa do
Tratamento Adaptado as Necessidades iniciada pelo Professor Yrjé Alanen
€ sua equipe, incluindo o Professor Jukka Aaltonen, que era supervisor do
projeto de desenvolvimento na Lapénia Ocidental.
Quando comecamos a desenvolver o sistema psiquiatrico agudo
para intemnos no Hospital Keropudas, em Tomio, tivemos dois interesses
‘TIVAS E DIALOGICAS EM DISTINTOS CONTEXTOS E POPULACOES:
‘ieoria e praticas 37
Primeiramente, estavamos interessados em psicoterapia in-
para pacientes diagnosticados com esquizofrenia. Na época, 0
Keropudas era ocupado por dezenas de pacientes de longo prazo
sido considerados ‘incuraveis’. O importante na tradigdo do
ito Adaptado 4s Necessidades era mudar para um modelo mais
e aprender a trabalhar com os recursos psicolégicos de pacientes
lemas psicéticos. Encontrar maneiras de utilizar os proprios re-
psicoldgicos de pacientes em nossos tratamentos provou-se crucial,
Finlandia, a pratica psicoterapéutica faz parte do servigo publico
ha bastante tempo. E 0 desenvolvimento e pesquisa feitos na
psiquiatrica de Turku pelo professor Yrjé Alanen e sua equipe tém
particularmente importantes desde a década de 1960. Iniciando com
‘apia psicodinamica individual, a equipe da clinica de Turku inte-
terapia familiar sistémica aos seus tratamentos no final da década de
chamou a abordagem de Tratamento Adaptado as Necessidades. Isto
izava que todo processo de tratamento € nico e deve ser adaptado
acordo com as necessidades varidveis de cada paciente. O modelo de
ento Adaptado as Necessidades também se enquadrava no contexto
Projeto Nacional Finlandés de Esquizofrenia na década de 80.
Os aspectos revolucionarios da abordagem Adaptada as Necessidades
vam em: (1) rapida interven¢gao precoce em cada caso; (2) planeja-
ito do tratamento para satisfazer as necessidades mutaveis e especificas
cada paciente e familia ao integrar diferentes métodos terapéuticos em
unico processo de tratamento; (3) ter uma atitude terapéutica como
‘orientacao basica para cada membro da equipe no exame e no tratamento;
(4) ver o tratamento como um processo continuo; e (5) monitorar cons-
ftantemente 0 progresso e os resultados do tratamento (ALANEN, 2009;
ALANEN LEHTINEN; RAKKOLAINEN; AALTONEN, 1991).
Na era da medicina baseada em evidéncias, tudo isso soa muito radi-
cal, pois desafia a ideia de que terapeutas devem escolher 0 método correto
de tratamento apés terem feito um diagnéstico preciso do caso. Em con-
trapartida, o Tratamento Adaptado as Necessidades foca na ideia de que o
diagnéstico ‘correto’ emerge de reunides conjuntas; e fica claro para nos
que o processo de compreensio, ou seja, chegar ao entendimento pleno
e pratico de uma maneira dialégica envolvendo todos os interessados no
acontecido, pode por si sé ser um processo muito terapéutico.
Antecipando as pesquisas sobre os fatores comuns nas psicoterapias,
a abordagem Adaptada as Necessidades ja integrava, no inicio da década
de 1980, as diferentes psicoterapias, ao invés de restringir-se a uma escola
ou abordagem; por exemplo, apenas terapia familiar sistémica ou psico-
terapia individual psicodinamica. Em meu desenvolvimento pessoal este
tem sido provavelmente um dos aspectos mais importantes que guiam a
mim e€ aos meus colegas de trabalho para sempre olharmos além dos nos-
sos limites para 0 quintal do vizinho.
Dialogo aberto na reuniao de terapia
Uma das inovagdes mais notaveis da abordagem Adaptada as
Necessidades foi a proposta de reuniées de tratamento abertas. A ideia nos
foi descrita pela equipe de Turku em 1984, enquanto estavamos vivenciando
frustragdes por no encontrarmos maneiras de integrar a psicoterapia indivi-
dual com um paciente com esquizoftenia ¢ terapia familiar sistémica para suas
familias. No inicio, esses dois métodos pareciam distantes um do outro, apesar
de sermos exatamente os mesmos terapeutas fazendo esse interessante traba-
Iho. Neste ponto, ouvimos sobre, as reunides abertas nas,quais os pagientes,e
suas familias si0 convidados desdé:o’pritcipia, seni.quénenhum membro-da
equipe prepare a reuniao. Em Turku, a abordagem em trabalho de equipe sem-
pre foi a preferida para a admissdo de uma pessoa em vez de entrevistas feitas
pelos médicos, ou testes psicoldgicas.feitos pelos psicdlogos.
Nessa reunido de tratamento, os principais participantes da situagio
problematica juntam-se ao paciente para discutir tedas;as questdes perti-
nentes. Todos os planos de gerenciamento e decisées siio feitos com todos
presentes. A reuniao acontece em um forum aberto e todos os participan-
tes sentam-se em um circulo na mesma sala. Os membros da equipe que
tomaram a iniciativa de convocar a reuniao iniciam 0 dialogo, mas nao
ha planejamento prévio quanto a quem faz as perguntas; assim, todos os
membros da equipe podem participar da entrevista.
As primeiras quest6es sao as mais abertas possiveis, para garantir que
os familiares e 0 restante do circulo social possam comegar a falar sobre
questdes que sejam mais pertinentes no momento. A equipe nao planeja
os temas da reunifio. Desde o principio, a tarefa do(s) entrevistador(es)
é adaptar suas respostas ao que os clientes disserem. Frequentemente, as
respostas da equipe tomam forma de uma nova pergunta que se baseia no
que o cliente e os membros da familia disseram, levando tudo em consi-
deragdo. Muitas vezes, isso significa repetir, palavra por palavra, alguma
parte do que foi expresso e encorajar que se fale mais sobre 0 assunto.
Todos os presentes tm 0 direito de comentar sempre que estiverem dis-
postos a fazé-lo, mas os comentarios nao devem interromper um didlogo em
COLABORATIVAS E DIALOGICAS EM DISTINTOS CONTEXTOS E POPULACOES:
centre tgoria e préticas 39
ento. Cada novo falante deve adaptar seu enunciado ao que foi pre-
te dito. Para os profissionais, isso significa que eles podem comentar
io investigacGes adicionais sobre o tema em discussdo, ou mencionando
outros profissionais de forma reflexiva seus pensamentos em resposta ao
esta sendo dito. Com frequéncia, nesses comentarios, frases especificas
introduzidas para descrever as experiéncias mais dificeis do cliente.
Membros da equipe podem informar a familia sobre suas obrigagées per-
do final da reuniao, apés os familiares terem falado sobre as questdes que
ideram mais significativas. Apos serem discutidas as questdes importan-
da reuniao, o membro da equipe responsavel pela convocagao da reuniaio
que ela seja interrompida. E importante, contudo, encerrar a reuniao
ietendo as prdprias palavras do cliente e perguntar, por exemplo: ‘Acredito
Possamos comegar 0 encerramento da reuniaio. No entanto, antes de encer-
108, ha algo mais que precisamos discutir’? Ao final da reuniao, é valido
izar brevemente os temas, especialmente se decisdes foram tomadas ou
; em caso afirmativo, quais foram estas decisées. A duracao das reunides
variar, mas, geralmente, 90 minutos é um tempo adequado.
Como 0 leitor pode ver, nossa abordagem é ressonante em muitos aspec-
com a terapia familiar dialégica de Harlene Anderson e Harry Goolishian
(1988), baseada na linguagem e que mais tarde foi desenvolvida por Anderson
(1997) e evoluiu para a terapia colaborativa. Também encontramos semelhan-
2 com o trabalho de Tom Andersen (1991) com os didlogos e processos refle-
xivos. Curiosamente, estas abordagens foram desenvolvidas na mesma época,
‘mas nds s6 tomamos conhecimento delas mais tarde, o que nos deu apoio para
seguirmos na diregdo que haviamos escolhido.
Este modo aberto de trabalho foi recebido de forma entusiasmada des-
de 0 inicio, o que nos encorajou a prosseguir, mas rapidamente comegamos
a ter experiéncias confusas e inesperadas. Mais tarde, nés percebemos que
isso era uma consequéncia de o paciente e a familia estarem ativamente
envolvidos no processo de compreensao do problema e planejamento do
tratamento. Nao podiamos mais seguir 0 conceito tradicional de primeiro
planejar € s6 entéo conduzir uma abordagem de tratamento. Além disso,
confrontamos varias situagOes terapéuticas de impasse que foram contor-
nadas pela adaptago das nossas intervengdes a como a familia falava so-
bre e vivenciava a crise atual.
Nossa visdo do tratamento psiquiatrico e terapéutico familiar foi de-
safiada das seguintes formas:
40
+ Planejamento de tratamento com planos estaveis nao era pos-
sivel, mas cada reunigo gerava um novo plano como processo,
Este processo de planejar e replanejar o tratamento foi muito util.
+ Nao podiamos mais aplicar o conceito de terapeuta como aquele
que instaura mudangas no sistema familiar por meio da utiliza-
¢o de diferentes intervengdes da terapia familiar.
* Nos percebemos que o trabalho familiar era possivel em um am-
biente hospitalar do setor publico, apesar de a equipe de Milao
ter afirmado que um pré-requisito da terapia sistémica é se afas-
tar da instituigao (SELVINI-PALAZZOLI, et al., 1978).
* — Quando a terapia familiar sistémica nao parecia ser a solugao, fo-
mos ‘forgados’ a procurar outras opgdes. A terapia familiar sistemi-
ca focava em uma visao de problema ou sintomas como fungdes do
sistema familiar, Mas, ao conceber 0 dialogo aberto, objetivamos
que todas as diferentes vozes fossem ouvidas, sem nenhuma ideia
se elas tinham uma fungdio no sistema familiar. Assim, a intervengio
nao pretendia iniciar mudanga na interagao familiar, mas sim gerar
novas palavras ¢ narrar novos acontecimentos.
Conhecendo o dialogismo
Em nossos primeiros esforcos, vimos as reunides abertas simples-
mente como um férum para organizar o tratamento em vez de based-lo em
concepedes dialégicas em um nivel formal. Contudo, enquanto refletiamos
sobre algumas experiéncias confusas nas reuniées, tivemos contato com
© que escreveu o linguista e pesquisador literdrio russo Mikhail Bakhtin
sobre um modo de vida polifénico eo dialogismo.
Eu li sobre Bakhtin pela primeira vez em um artigo escrito em lin-
gua Tussa por um professor da Universidade de Ji yvaskyla, Erkki Peuranen
(1980). Eu fiquei estarrecido pelo fato de Bakhtin (1984) parecer descrever
nos romances de Dostoievsky a mesma experiéncia que nés est4vamos
vivenciando nas reunides ‘polifénicas’ com nossos clientes. Havia sempre
muitas vozes presentes nas reunides de tratamento e, como nota Bakhtin,
em uma reuniao polifénica a posigao de cada participante, especialmente
a do autor, é radicalmente mudada. A unica maneira de proceder é gerando
didlogo entre as vozes de todos os patticipantes e, nessa polifonia, nenhu-
ma voz é mais importante do que as outras, Ts
De acordo com Bakhtin (1984), 0 autor de um romance polifénico nao
pode controlar a acaio dos personagens e 0 unico jeito de sobreviver é estando
IRATIVAS E DIALOGICAS EM DISTINTOS CONTEXTOS E POPULAGOES:
eons e praticas a
jogo com eles. Nés chegamos A conclusio de que éramos este tipo de
*; responsaveis pela autoria da histéria do tratamento, porém nao mais
de fazé-lo do modo tradicional, em que definimos métodos e interven-
para remover sintomas ou mudar o sistema familiar.
Em reunides de didlogo aberto o foco é fortalecer o lado adulto do pa-
e normalizar a situagao em vez de focar no comportamento regressivo
NEN et al., 1991). O ponto inicial do tratamento é a linguagem da fami-
descrevendo o problema do paciente. Os problemas sao vistos como social-
construidos e sio reformulados em cada conversa (BAKHTIN, 1984;
GEN, 2009; SHOTTER, 1993; SHOTTER; LANNAMANN, 2002).
as pessoas presentes sao encorajadas a falar usando sua propria voz.
Ao contrario da terapia tradicional, a postura do terapeuta no é fazer
a intervengdo. Além disso, enquanto muitas linhas de terapia familiar
io particularmente interessadas em criar formas especificas de entre-
, no didlogo aberto ouvir e responder responsivamente torna-se mais
ortante. Membros da equipe podem comentar uns com os outros sobre
que ouviram, como uma discussao reflexiva, enquanto a familia escuta
IERSEN, 1995).
Didlogo aberto como sistema psiquiatrico
Para mim, as reunides abertas estavam intimamente ligadas ao servi¢o
publico psiquiatrico da Lap6nia Ocidental. O nome Didlogo Aberto foi usado
pela primeira vez em 1995 para descrever o tratamento centrado na familia
inteira € no circulo social (Seikkula et al., 1995). Ele incluia dois aspectos:
Primeiro, as reuniGes descritas acima, das quais todos os membros relevantes
- participavam desde o principio para gerar novo entendimento por meio do di-
dogo. Segundo, provimento de princfpios norteadores para todo 0 sistema de
ica psiquidtrica em uma area geogrifica de captagao. Isso significava que,
para nés, o didlogo aberto nao era apenas uma maneira de conduzir reunides
abertas com um paciente e a familia, ou mesmo incluir parte do circulo social.
Ele também fornecia principios basicos para organizar todo o sistema de trata-
mento psiquiatrico de modo a tornar possivel o didlogo.
“Ao desenvolver a nova abordagem, percebemos a importancia da
pesquisa no sistema psiquiatrico da Lap6nia Ocidental. Esse tem sido um
dos trés elementos mais importantes para o desenvolvimento de praticas
dialogicas. Varias avaliages de efetividade e processos de tratamento da
abordagem do Didlogo Aberto foram concluidas pelo emprego de ideias
da pesquisa-agao (AALTONEN; SEIKKULA; LEHTINEN, in press;
2
HAARAKANGAS, 1997; KERANEN, 1992; SEIKKULA, 1991, 1995;
SEIKKULA et al., 2003, 2006, 2011). Pesquisa-a¢4o consiste em um mé-
todo e modelo que torna possivel estudar sistemas humanos a partir de seu
interior, assim 0 pesquisador é parte do sistema sendo observado. Nesses
estudos, percebemos 0 recurso extraordinério no sistema para produzir re-
sultados positivos, melhores do que em qualquer outra abordagem, para
pacientes psicoticos e depressivos, especialmente para psicose. Os estudos
também forneceram principios ideais para organizar o tratamento psiqui-
Atrico nas crises mais severas, que foca em mobilizar o meio familiar €
outros circulos sociais do paciente.
De acordo com esses principios, um sistema ideal para mobilizar os
recursos psicoldgicos do nosso cliente deve incluir: (1) realizagao da pri-
meira reuniao dentro de 24 horas apés o contato inicial, visando a obten-
gfio de uma resposta imediata; (2) uma perspectiva de rede social que,
em todos os casos, convida membros relevantes dos vinculos sociais do
cliente e todos os profissionais envolvidos na crise vigente; (3) flexibilida-
de e mobilidade pela constante adaptagao as necessidades tinicas de cada
cliente e familia; (4) garantia de compromisso para que quem for conta-
tado no sistema profissional torne-se responsavel por organizar a primeira
reuniao, antes que qualquer decisdo em relago ao tratamento seja tomada,
(5) continuidade psicolégica por meio da integragdo de profissionais de
servicos diferentes, como psiquiatria infantil, satide mental ambulatorial
e assim por diante, se necessério — para trabalhar como uma equipe inte-
grada por quanto tempo for preciso; (6) tolerancia em relagao a incertezas
e gerag4o de um processo para a nova comunidade conversacional ‘viver”
e conversar em conjunto; e (7) a utilizagao da dialogicidade como objeti-
vo principal nas reunides conjuntas para aumentar a compreensao sobre a
crise vigente e a vida de nossos clientes. Por ‘dialogismo’ eu me refiro ao
entendimento responsivo e 0 ato de convidar os membros da familia para
investigagées as quais nao se prestariam em outros casos.
Dialogos abertos tém sido estudados sistematicamente na Lapénia
Ocidental com pacientes no primeiro episédio psicotico (SEIKKULA et
al., 2006; SEIKKULA et al., 2011; AALTONEN etal., 2011). Estes estudos
mostraram resultados favordveis em psicose. No acompanhamento apés 5
anos de follow up, 85% dos pacientes nao apresentavam sintomas rema-
nescentes de psicose ¢ 85% havia retornado as suas ocupagdes. Apenas um
tergo usou medicamentos antipsicéticos. Ha também evidéncias de um de-
clinio de 25% na incidéncia de esquizofrenia na Lap6nia Ocidental durante
os 25 anos de pratica do didlogo aberto.
ICAS COLABORATIVAS E DIALOGICAS EM DISTINTOS CONTEXTOS E POPULAGOES:
centre teoria © praticas 4“
momento presente nos dialogos polifonicos corporificades
O que é descrito acima estabelece 0 contexto para a minha compreen-
pessoal do trabalho psicoterapéutico. Nao é um modelo generalizado,
entanto esta particularmente relacionado ao desenvolvimento do pro-
na Lap6nia Ocidental para lidar com as crises de satide mental mais
. Durante os ultimos 20 anos, estive envolvido no desenvolvimen-
das praticas dialogicas em varios contextos e muitos tipos de clientes,
cas, adolescentes, adultos e familias. E possivel aplicar abordagens
l6gicas em muitos cenarios diferentes.
Mas 0 que me surpreendeu foi a enorme dificuldade que terapeutas,
extensa experiéncia em um método terapéutico especifico, ttm em
um modo dialégico de trabalho com os clientes. A meu ver, 0 dialo-
nao é um método; é um modo de vida. E uma das primeiras coisas que
demos em nossas vidas, 0 que explica o motivo de ser um evento tio
ieroso. Por ser o fator corrente da vida, é de fato muito simples. E, é a
propria simplicidade que parece ser a dificuldade paradoxal. E tio sim-
que nao podemos acreditar que o elemento de cura de qualquer pratica
ja simplesmente ser ouvido, receber resposta e entdo, quando a resposta
dada € recebida, nosso trabalho terapéutico esta cumprido (SEIKKULA;
IMBLE, 2005). Nossos clientes recuperaram a agéncia nas suas vidas
terem capacidade para o didlogo.
Como isso acontece? Para terapeutas, o desafio principal é estar pre-
ite no momento, como pessoas vivas, corporificadas, compreensivas,
ondendo a cada enunciado e, assim, vivendo ‘numa ocorréncia-tnica
de participagao no ser’? (BAKHTIN, 1993, p. 2).
Tom Andersen (2007) se preocupava com trés diferentes realidades de
‘ossas praticas enquanto profissionais de assisténcia social e da satide: (1)
Na realidade ‘ou-ou’ lidamos com aspectos que sao visiveis, mas estao mor-
tos, no sentido de que sao definidos precisamente e as definigdes permane-
‘em as mesmas apesar do contexto. (2) Na realidade que considera ‘ambos-
-e’ lidamos com aspectos para os quais muitas descrigdes simulténeas sao
possiveis. Estes aspectos so vivos e visiveis. Este é 0 caso, por exemplo,
quando na discussao em terapia familiar, damos espaco para que vozes dife-
rentes sejam ouvidas sem considerar um ponto de vista como certo e outro,
errado. (3) Na terceira, a realidade que considera ‘nem um nem outro’, as
coisas sao invisiveis, mas vivas. Experimentamos alguma coisa ocorrendo,
7 Nooriginal em inglés —‘once-occurring participation in being’
44
mas nao temos uma descri¢ao Linguistica exata para ela. Podemos dizer que
nao € uma coisa nem outra, mas sabemos que algo est4 ocorrendo. Como
exemplo, Andersen cita o aperto de mio. E algo que acontece em nossa par-
ticipagaio corporificada na sessio, no entanto nao é comentado com palavras,
permanece como nossa experiéncia corporificada.
Daniel Stern (2004), ao enfatizar a importancia do momento presente,
coloca-se critico em relagiio as descrigdes de psicoterapia e psicandlise que fo-
cam as narrativas dos clientes. O terapeuta é visto como aquele que da sentido
4s historias em diferentes linhas e de maneiras diferentes. A terapia se ocupa
do conhecimento explicito em descrigdes linguisticas. Stern propde mudan-
¢a do conhecimento explicito para o conhecimento implicito, que acontece
no momento presente como experiéncia corporificada e sobretudo sem pa-
lavras — ou seja, tomar consciéncia daquilo que acontece em nés antes de
colocarmos em palavras. Nés vivemos no momento presente que dura apenas
alguns segundos. Isso se refere aos microaspectos de um didlogo presentes na
tesposta ¢ responsividade do terapeuta a Pessoa, antes que qualquer coisa seja
verbalizada ou descrita em linguagem; isto é, no estar aberto aos outros,
No tipo de terapia familiar que foca na geragdo de didlogos, isso sig-
nifica mudar 0 foco do contetido bus 2% para os sentimentos que
se desdobram no momento presente, quando sao contadas as narrativas.
Terapeutas ¢ clientes vivem uma experiéncia conjunta e corporificada que
acontece antes de as experiéncias dos clientes serem formuladas em pala-
vras. No didlogo, uma consciéncia intersubjetiva emerge. Nossa identidade
social é construida ao adaptarmos nossas agdes as dos outros e, mais que
isso, s6 é possivel conhecer a mim mesmo de fato, ao ver-me através dos
olhos do outro (BAKHTIN, 1990). Pessoas viventes emergem do contato
real umas com as outras, e se adaptam umas as outras como em uma danga
continua na qual movimentos automaticos ocorrem, sem que 0 comporta-
mento seja controlado ou deliberado através de palavras.
A qualidade intersubjetiva da nossa consciéncia é mostrada em estu-
dos da comunicagao mae-bebé conduzidos por Trevarthen (1990, 2007). As
observagdes cuidadosas de pais e criangas feitas por Trevarthen demons-
tram que a experiéncia humana original do dialogo emerge nos primeiros
dias de vida, conforme pais e filho se engajam em uma delicada danga de
sintonia emocional por meio de express6es faciais, gestos de maos e tons
de vocalizacao. E um dialogo verdadeiro: as agdes da crianga influenciam
© estado emocional do adulto e 0 adulto, ao engajar, estimular ¢ confortar,
influencia os estados emocionais da crianga.
COLABORATIVAS E DIALOGICAS EM DISTINTOS CONTEXTOS E POPULAGOES:
entre teoriae praticas
Braten (1992, 2007) descreve o Outro Virtual como uma parte inata da
e do bebé que, de certo modo, espera um didlogo com o Outro Real. Se o
tro Real nao esta presente, o dialogo emerge com o Outro Virtual. Relagdes
moximas ocorrem na forma de imediaticidade sentida, em sentimentos ex-
smentados em um modo pré-linguistico (SEIKKULA; TRIMBLE, 2005).
Duas historias acontecem em cada reunido. A primeira é uma historia
pela nossa presenga como pessoas viventes corporificadas. Adaptamo-
uns aos outros e criamos uma experiéncia polifénica multivocalica do in-
dente compartilhado. Salgado e Hermans (2005) afirmam que nao podemos
amar isto de ‘experiéncia’, visto que experiéncia ja supde sentido psicolégi-
que é incluido pelo Outro ou pela Alteridade na situagao. Multiplos signi-
los emergem pela nossa experiéncia corporificada baseado no numero de
ticipantes da situagéio. Tais sessdes familiares ja incluem diversos membros
familia e, geralmente, dois ou trés terapeutas. A maior parte desta histéria
eorre sem palavras, mas nao toda. As palavras que se referem a nossa presen-
nessa conversa, geralmente incluem as emoges mais importantes ligadas
vozes em nossas vidas que lidam com experiéncias dificeis. Podemos, por
emplo, descrever ¢ refletir sobre nossos sentimentos em relagdo a situagao
fica sobre a qual falamos.
A segunda histéria, na mesma situag&o, ocorre nas historias que pes-
viventes contam sobre suas vidas. Historias sempre se referem ao
assado; elas nunca podem alcangar o momento atual, uma vez que quan-
pa palavra € formulada e quando se torna ouvida, a situagao em que foi
formulada ja passou. Ao integrar os dois aspectos do mesmo momento,
‘a-se evidente 0 que o foco no didlogo pode acrescentar.a uma orienta-
cao narrativa. Como Lowe (2005) afirmou: ‘O estilo conversacional [
simplesmente segue a conversacao, enquanto os estilos narrativos e centra-
dos na solucio, geralmente, tentam conduzi-la’ (p. 70, grifo meu).
Nas abordagens dialdgicas, a posigdo dos terapeutas torna-se diferente
se comparada as terapias narrativa ¢ centrada na solugdo. Terapeutas nao sao
mais intervencionistas com um mapa pré-planejado para as histérias que os
clientes contam. Ao invés disso, seu foco principal esta em como responder
aos enunciados dos clientes, visto que suas respostas s4o geradoras para mobi-
lizar os proprios recursos psicoldgicos dos clientes — jé que ‘para uma palavra
( consequentemente para um ser humano) nao ha nada mais terrivel que a fal-
ta de resposta’ (BAKHTIN, 1984, p. 127), Respeitando o principio dialbgico
de que cada enunciado demanda uma resposta, os membros da equipe sempre
se empenham para responder o que é dito. Responder nao é o mesmo que dar
uma explicacao ou interpretagdo, mas sim demonstrar em uma re: posta do
terapeuta que alguém percebeu o que foi dito e, quando possivel, i
novo ponto de vista sobre 0 que foi falado.
46
Nao é uma interrupgao forgada de cada enunciado para dar uma res-
posta, mas, uma adaptagdo das palavras da resposta de alguém ao ritmo
natural ¢ emergente da conversa. Membros da equipe respondem enquanto
pessoas plenamente corporificadas com um interesse genuino no que cada
pessoa na sala tem para dizer, evitando qualquer insinuagao de que alguém
possa ter dito algo errado. Uma vez que o processo proporciona que os
membros da rede social encontrem suas vozes, eles também se tornam
respondentes a si proprios. Para um falante, ouvir suas proprias palavras
depois de receber comentarios respondendo a elas, permite que ele entenda
melhor o que disse. Usando a linguagem cotidiana, com a qual os clientes
sao familiarizados, as perguntas dos membros da equipe favorecem o re-
lato de historias que incorporam detalhes mundanos e as emogGes dificeis
dos eventos sendo recontados.
Polifonia de vozes
Visualizar nossa consciéncia como intersubjetiva afasta-nos do qua-
dro que mostra individuos como sujeitos de suas vidas, no sentido que o
centro coordenador de suas acées existe dentro deles. Ao invés disso, uma
descrigéo do eu polifonico é gerada. Entao, o eu polifénico é construido
socialmente, mas de uma forma em que é nomeado singularmente como
resposta ¢ responsividade. Plat’o, em seus primeiros trabalhos, ja via o eu
como uma construgao social quando disse:
Quando a mente esta pensando, ela est simplesmente falando consi-
go mesma, fazendo perguntas e as respondendo; e dizendo sim ou no.
Quando chega a uma decisao — que pode vir lentamente ou subitamente
— quando a divida acaba ¢ as duas vozes afirmam a mesma coisa, a isto
chamamos ‘seu julgamento’ (PLATO, THEATETUS, 189e-190a).
A mente é um continuo de vozes falando umas com as outras, ini-
ciando e respondendo. Vozes sao a personalidade falante, a consciéncia
falante (BAKHTIN, 1984; WERTSCH, 1991). A personalidade nao é uma
estrutura psicolégica dentro de nds, mas, agdes qué acontecem na fala,
gerando assim a consciéncia humana (STILES, 2002). Todas as nossas
experiéncias deixam um sinal em nosso corpo, mas apenas uma parte mi-
nima desses sinais acaba se tornando narrativas faladas. Ao formulé-las
em palavras, elas se tornam vozes das nossas vidas. Quando experiéncias
so formuladas em palavras, elas deixam de ser inconscientes (BAKHTIN,
T: Odque ele... como ele mostraria sua compaix4o? O que ele diria,
que palavras usaria?
Bom, ele ... ele era 0 tipo de homem mais antigo que nao sabia
demonstrar tudo...
Hum ....
... ele, com certeza, tentaria me encorajar ...
Sim.
... € ew acho que ele lidaria bem com isto. E s6 0 que posso dizer.
Mas o que vocé acha é que ele te encorajaria e mostraria sua
compaixio ... ... que ... ou é isto que eu ougo, que de alguma
forma ele entenderia esta situacao?
P: Sim. Eu era 0 tinico de nés que sabia lidar com meu pai depois
que ele ficou ...
a
Hens
T: Sim... sim
P: ... velho
Te que ele v sive, “9 sua comnaixao. ... O que
vocé acha que sua mae diria se <
Aspectos importantes da polifonia sio’as-vozes de cada terapeuta.
Terapeutas participam do dialogo com as vozes de sua especialidade profis-
sional, sendo um médico, psicdlogo, tendo treinamento como terapeuta fa-
miliar, e, assim por diante (ver ROBER, 2005). Além das vozes profissionais,
terapeutas participam do didlogo com suas vozes pessoais e intimas. Se um
terapeuta experimentou a perda de alguém proximo de si, estas vozes de perda
¢ tristeza tornam-se parte da polifonia. Nao no sentido de que terapeutas fala-
riam sobre suas prprias experiéncias com a morte, mas no modo que eles se
adaptam ao momento presente: como se sentam, como olham para os outros
falantes, como mudam a entonacdo e assim por diante. Vozes interiores se
tornam parte do momento presente, nao tanto das histérias contadas. As vozes
interiores dos terapeutas e suas proprias experiéncias pessoais e intimas se
tomam parte poderosa da danga conjunta do didlogo.
Segundo exemplo de caso polifénico:
o momento silencioso e que cura
Mary era irma de Matt, que tinha um longo histérico de hospitalizagdes
por esquizofrenia. Mary queria ter reunides familiares porque a historia deles
nao havia sido contada. Mary, Matt e a mae, Susan, vieram nos ver. Eles dis-
seram que sua tragédia comegara décadas atras, quando o pai deles morreu
-COLABORATIVAS E DIALOGICAS EM DISTINTOS CONTEXTOS E POPULACOES:
entre teoria e praticas 49
amente. Matt, seu irmao mais velho, tornou-se muito importante para
quando ela tinha 10 anos de idade, mas logo ele abandonou a escola, co-
ase isolar de amigos e familia ¢ usou drogas que causavam ataques im-
Siveis que se tomaram um pesadelo para a Mary. Ela ficou aterrorizada e
matizada quando seu irmao, pouco a pouco, se tornou Ppsicotico. Na época,
no foi convidada a nenhuma reuniao familiar e, nem mesmo sua mae,
seguia explicar 0 que estava acontecendo com Matt. Apos ser hospitaliza-
ela primeira vez aos 18 anos de idade, Matt ja se encontrava internado por
os quando nos encontramos pela primeira vez.
Desde 0 inicio, os didlogos estavam sensiveis em muitos aspectos,
meiro, a mie informou que n&o queria uma reuniaio familiar, pois tinha
edo de Matt ficar psicético ao falar sobre memérias antigas e delicadas.
=almente, enquanto falava de algumas questdes carregadas de emogées,
ait, repentinamente, comecou a falar de suas hist6rias especificas, o que
‘a ser visto como psicético. Quando isso aconteceu, perguntei a ele se
shavia falado algo de errado para que cle falasse sobre aquelas questdes.
10, perguntei se era possivel prosseguirmos com o assunto com o qual
sviamos comegado. Na maioria das vezes, Matt respondeu que nao havi-
oS dito nada de errado e nos permitiu seguir adiante. Pouco a pouco, os
pisddios de fala psicética de Matt diminuiram e pararam por completo.
Apés nos encontrarmos por cerca de dois anos, com quatro ou cinco
esses a cada ano, a seguinte sequéncia de dialogo emergiu. Esta foi a pri-
ira vez que Mary, na presenga de sua familia, pode encontrar palavras
suas experiéncias aterradoras. M indica Mary eT 0 autor.
M: Eu no fui reconhecida.
Tl: Vocé nio foi reconhecida?
M: Durante a minha vida eu fui excluida da familia. Finalmente que-
ro me livrar desta bagunga simbiética.
T1: Vocé disse: ‘Durante a minha vida eu fui excluida da familia’. E
entéo vocé disse: “Finalmente quero me livrar desta bagunga simbi-
Otica’. Parece que vocé esta dizendo duas coisas ao mesmo tempo?
M: ... sim ... foi o que eu disse ... Mas, por enquanto, néio consigo
dizer nada mais sobre isso.
TI: ... sim.
Quando Mary falou sua experiéncia, o terapeuta repetiu suas pa-
lavras. Isso é amitide muito util para gerar dialogo em questées car-
regadas de emogao. Ao se repetir palayra por palavra, o falante pode
ouvir suas préprias palavras com uma entonagdo levemente diferente.
T: Oqueele... como ele mostraria sua compaixao? O que ele diria,
que palavras usaria?
Bom, ele ... ele era o tipo de homem mais antigo que nao sabia
demonstrar tudo...
Hum ....
... ele, com certeza, tentaria me encorajar ...
Sim.
... @eu acho que ele lidaria bem com isto. E s6 0 que posso dizer.
Mas 0 que vocé acha é que ele te encorajaria e mostraria sua
compaixio ... € ... que ... ou € isto que eu ougo, que de alguma
forma ele entenderia esta situagao?
Sim. Eu era o tinico de nés que sabia lidar com meu pai depois
que ele ficou
T: Sim... sim
.-. velho
=. que ei vy siee.
vocé acha que sua mae diria se &
Eo
nyvoitaA
ta sua comnaixao. ... O que
Aspectos importantes da polifonia-sAo as-vozes de cada terapeuta.
Terapeutas participam do didlogo com as vozes de sua especialidade profis-
sional, sendo um médico, psicdlogo, tendo treinamento como terapeuta fa-
miliar, e, assim por diante (ver ROBER, 2005). Além das vozes profissionais,
terapeutas participam do didlogo com suas vozes pessoais e intimas. Se um
terapeuta experimentou a perda de alguém proximo de si, estas vozes de perda
¢ tristeza tornam-se parte da polifonia. Nao no sentido de que terapeutas fala-
riam sobre suas proprias experiéncias com a morte, mas no modo que eles se
adaptam ao momento presente: como se sentam, como olham para os outros
falantes, como mudam a entonacéio e assim por diante. Vozes interiores se
tomam parte do momento presente, nfo tanto das historias contadas. As vozes
interiores dos terapeutas e suas préprias experiéncias pessoais ¢ intimas se
tomam parte poderosa da danga conjunta do didlogo.
Segundo exemplo de caso polifénico:
o momento silencioso e que cura
Mary era irma de Matt, que tinha um longo histérico de hospitalizagdes
por esquizofrenia. Mary queria ter reunides familiares porque a historia deles
no havia sido contada. Mary, Matt e a mae, Susan, vieram nos ver. Eles dis-
seram que sua tragédia comegara décadas atras, quando o pai deles morreu
S COLABORATIVAS E DIALOGICAS EM DISTINTOS CONTEXTOS & POPULACCES:
agp enire teora e praticas 49
amente. Matt, seu irmo mais velho, tornou-se muito importante para
quando ela tinha 10 anos de idade, mas logo ele abandonou a escola, co-
gu a se isolar de amigos e familia e usou drogas que causavam ataques im-
‘izada quando seu irm&o, pouco a pouco, se tornou psic«
nao foi convidada a nenhuma reunido familiar e, nem mesmo sua mie,
ia explicar 0 que estava acontecendo com Matt. Apds ser hospitaliza-
a primeira vez.aos 18 anos de idade, Matt ja se encontrava internado por
quando nos encontramos pela primeira vez.
Desde 0 inicio, os didlogos estavam sensiveis em muitos aspectos.
meiro, a mae informou que nao queria uma reuniao familiar, pois tinha
do de Matt ficar psicotico ao falar sobre memérias antigas e delicadas.
calmente, enquanto falava de algumas questdes carregadas de emogées,
fatt, repentinamente, comecou a falar de suas historias especificas, 0 que
deria ser visto como psicético. Quando isso aconteceu, perguntei a ele se
havia falado algo de errado para que ele falasse sobre aquelas questdes,
40, perguntei se era possivel prosseguirmos com 0 assunto com 0 qual
iamos comegado. Na maioria das vezes, Matt respondeu que nao havi-
nos dito nada de errado ¢ nos permitiu seguir adiante. Pouco a pouco, os
pisddios de fala psicdtica de Matt diminuiram e pararam por completo.
Apés nos encontrarmos por cerca de dois anos, com quatro ou cinco
esses a cada ano, a seguinte sequéncia de didlogo emergiu. Esta foi a pri-
cira vez que Mary, na presenga de sua familia, pode encontrar palavras
wa Suas experiéncias aterradoras. M indica Mary e T1 0 autor.
M: Eu nao fui reconhecida.
Tl: Vocé nao foi reconhecida?
M: Durante a minha vida eu fui excluida da familia. Finalmente que-
ro me livrar desta bagunga simbidtica.
Tl: Vocé disse: ‘Durante a minha vida eu fui excluida da familia’. E
entao vocé disse: ‘Finalmente quero me livrar desta bagunga simbi-
6tica’. Parece que vocé esta dizendo duas coisas ao mesmo tempo?
M: ... sim... foi o que eu disse ... Mas, por enquanto, nao consigo
dizer nada mais sobre isso.
Ti: ... sim.
Quando Mary falou sua experiéncia, o terapeuta repetiu suas pa-
lavras. Isso é amitide muito util para gerar didlogo em questdes car-
regadas de emogao. Ao se repetir palavra por palavra, o falante pode
ouvir suas proprias palavras com uma entonagao levemente diferente.
50
Bakhtin (1984) fala de palavra penetrada, uma palavra que foi penetra-
da pelo tom da palavra do outro; tal ‘palavra [é] capaz de ativamente
e, de forma confiavel, interferir no didlogo interno da outra pessoa,
ajudando-a a encontrar sua propria voz’ (p. 242).
Isso aconteceu no episdédio acima. Quando o terapeuta repetiu as pala-
vras, foi possivel que Mary ouvisse seu proprio discurso. Apés repetir as pa-
lavras e dizer ‘Parece que vocé est dizendo duas coisas ao mesmo tempo’,
houve um momento de siléncio e, durante este momento presente, Mary ouviu
suas palavras percebendo que aquilo era o que havia dito, mas néio podia en-
contrar palavras para expressar. O siléncio do terapeuta também pareceu ser
algo muito importante, j4 que o terapeuta ndo preencheu este momento com
significados dados por algum comentario. Este também foi um momento po-
deroso, pois Matt a mae de Mary ouviram as palavras pela primeira vez.
Com Pekka trabalhamos juntos por 16 meses, fazendo a maioria das
sessdes somente com ele e dois ou trés terapeutas — um deles estudante de
mestrado em Psicologia. A cada dois meses a esposa de Pekka participava
do encontro. Pekka se recuperou da depressao, mas dificuldades se manti-
veram na relacao conjugal.
Com Mary e sua familia, encontramo-nos por cinco anos, de trés a cinco
vezes ao ano. Todos apresentaram melhora tanto na vida pessoal quanto nas
interagdes uns com os outros. Seu irmao nao foi hospitalizado durante estes
anos ¢ eles aprenderam a falar um com 0 outro. Ele no fala mais sobre expe-
riéncias psicéticas. Em nossas sessdes, eles comegaram a falar sobre o paiea
memoria de sua perda; eles se tornaram curiosos um sobre 0 outro e aprende-
ram a viver como uma familia, apés trinta anos de vida isolada,
Reflexes finais
Eu descrevi alguns passos importantes no meu caminho até chegar
ao modo de vida dialogico em um cenario profissional. Como eu disse no
inicio, eu fico receoso de chamar isso de um método terapéutico, mas ao
mesmo tempo — como visto nos dois curtos episddios de psicoterapia —
um modo de vida dialdgico remete a uma énfase especifica na conduta de
conversas terapéuticas. Uma mensagem principal siio os resultados pode-
Tosos mostrados em muitos estudos que verificam que, um foco na geragao
de didlogos em contextos de intervencaio com miltiplos atores, mobilizam
0s clientes a usar seus proprios recursos. - - —
~~ Quando abrimos pela primeira vez a porta para os didlogos abertos no
meio da década de 1980, 0 foco era quase que inteiramente nos didlogos
RATICAS COLABORATIVAS E DIALOGICAS EM DISTINTOS CONTEXTOS E POPULAGOES:
idiogo entre teoria e pratcas 51
ados, incluindo a importancia da resposta. Ultimamente, contudo, o
fastamento do contexto psiquiatrico significou poder ver a qualidade cor-
orificada de nossa presenga polifonica como sendo mais importante do
as narrativas contadas nas sess6es. Para mim, isso também significa
2 tomar mais interessado na qualidade intersubjetiva da vida humana
a sua totalidade. Como pessoas viventes, nds somos seres relacionais;
sscemos dentro de relagées e todas as relagdes dentro das quais vivemos
corporificam na estrutura de nossos corpos viventes — 0 que nos aju-
a entender a simplicidade do empoderamento dialégico. Nada mais é
ecessario que ser ouvido e levado a sério; ¢ é isso que gera uma relacao
j6gica. E quando — apés uma crise — retornamos novamente a rela-
dialégicas, a tarefa terapéutica é cumprida, pois a ag6ncia é retomada.
Assim, o desafio para qualquer tipo de auxilio psicolégico passa a ser
stir de nossos proprios objetivos de mudanga e intervengo para produzir
ga nos nossos clientes. Como profissionais, deveriamos aprender a se-
ondigdes. Isso no ¢ facil, mas é o desafio para mim. Em uma das mais
ites tentativas de ajudar terapeutas a fazer isso, desenvolvemos métodos
taldgicos especificos para procurar ocorréncias responsivas em didlogos com
itiplos atores (SEIKKULA; LAITILA; ROBER, 2011). Enfim, aprender o
o dialégico da vida profissional é um trabalho pragmatico. Neste método
investigagdes dialdgicas, 0 objetivo é olhar sobretudo as respostas, pois o
dlogo é gerado no modo como respondemos uns aos outros.
O paradoxo do didlogo pode estar em sua simplicidade e em sua comple-
dade como um todo. F tio facil quanto a vida, mas ao mesmo tempo o dia-
tao complicado e dificil quanto a vida. Mas 0 didlogo é algo de que nao
mos escapar, esta presente como a respiragao, o trabalho, o amor, ter hob-
di Ea vida. Como uma voz final, Mikhail Bakhtin (1984) observou:
[..] vida humana auténtica é 0 didlogo aberto. A vida por sua propria
natureza é dialdgica. Viver significa participar do didlogo: fazer per-
guntas, prestar aten¢do, responder, concordar e assim por diante. Desse
didlogo, uma pessoa participa integralmente e por toda sua vida: com
seus olhos, labios, maos, alma, espirito, com todo seu corpo e agdes.
Ela investe toda sua vida na palavra ¢ esta palavra entra no tecido dia-
légico da existéncia humana, no simpésio universal (p. 293).
REFERENCIAS
AALTONEN, J.; SEIKKULA, J LEHTINEN, K. (in press).
Comprehensive open-dialogue approach I: developing a comprehensive
culture of need-adapted approach in a psychiatric public health catchment
area the Western Lapland Project. Psychosis, 3, p. 179-191, 2011.
ALANEN, Y. Towards more humanistic psychiatry: development of
need-adapted treatment of schizophrenia group psychosis. Psychosis,
1, p. 156-166, 2009.
ALANEN, Y. et al. Need-adapted treatmentof new schizophrenic pa-
tients: Experiences and results of the Turku Project. Acta Psychiatrica
Scandinavica, 83, p. 363-372, 199].
ANDERSEN, T. The reflecting team: diaidgitS id iAaAe UBBREtKS
dialogues. New York: Norton, 1991.
ANDERSEN, T. Reflecting processes: acts of forming and informing. In:
FRIEDMAN, S. (Ed.). The reflecting team in action. New York: Guilford,
p. 11-37, 1995.
ANDERSEN, T. Human participating: human ‘being’ is the step for human
‘becoming’ in the next step. In: ANDERSON, H.; GEHART, D. (Eds),
Collaborative therapy. relationships and conversations that make a diffe-
rence. New York: Routledge/Taylor, Francis, 2007.
ANDERSON, H.; GOOLISHIAN, H. Human systems as linguistic sys-
tems: Preliminary and evolving ideas about the implications for clinical
theory. Family Process, 27, p. 371-393, 1988.
BAKHTIN, M. Problems of Dostojevskij s poetics: theory and history of
literature. v. 8. Manchester, England: Manchester University Press, 1984,
BAKHTIN, M. drt and answerability: early philosophical essays of
M. M. Bakhtin (Vadim Liapunov, Trans.). Austin: University of Texas
Press, 1990.
#5 COLABORATIVAS E DIALOGICAS EM DISTINTOS CONTEXTOS E POPULAGOES:
snp entre teoria e prticas 53
K , M. Toward a philosophy of the act (Vadim Liapunoy, Trans.).
stin: University of Texas Press, 1993.
ATEN, S. On being moved: From mirror neurons to empathy.
2 : John Benjamins Publishing, 2007.
TEN, S.; TREVARTHEN, C. Prologue: from infant intersubjectivity and
ipant movements to simulation and conversation in cultural common
In: BRATEN, S. (Ed.), On being moved: from mirror neurons to empa-
Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, p. 21-34, 2007.
RGEN, K. Relational bein;
ord University Press, 2009.
beyond self and community. New York:
ANGAS, K. Hoitokokouksen dinet. The voices in treatment
ig. A dialogical analysis of the treatment meeting conversations in
centred psychiatric treatment process in regard to the team activity.
slish Summary. Jyvaiskyldi Studies in Education, Psychology and Social
arch, 130, p. 119-126, 1997.
ANEN, J. The choice between outpatient and inpatient treatment
family centred psychiatric treatment system. English summary.
askyld Studies in Education, Psychology and Social Research, 93,
24-129, 1992.
OWE, R. Structured methods and striking moments: using question se-
ences in ‘living’ ways. Family Process, 44, p. 65-75, 2005.
E N, E. Bahtinin sosiologinen poetiikka. Bakhtin’s sociological
etics. Kulttuurivihkor, 8, p. 17-27, 1980.
ER, P. The therapist’s self in dialogical family therapy: Some ideas
out notknowing and the therapist’s inner conversation. Family Process,
p. 477-495, 2005.
ULA, J. et al. Treating psychosis by means of Open Dialogue. In:
RIEDMAN, S. (Ed.), The reflective team in action: collaborative practice
m family therapy. New York: Guilford Press, p. 62-80, 1995.
54
SEIKKULA, J. et al. Open Dialogue approach: treatment principles and
preliminary results of a two-year follow-up on first episode schizophrenia.
Ethical Human Sciences and Services, 5(3), p. 163-182, 2003.
SEIKKULA, J. et al. 5 years experiences of first-episode non-affective psy-
chosis in Open Dialogue approach: Treatment principles, follow-up outcomes
and two case analyses. Psychotherapy Research, 16, p. 214-228, 2006.
SEIKKULA, J.; ALAKARE, B.; AALTONEN, J. The comprehensive
open-dialogue approach (II). Long-term stability of acute psychosis
outcomes in advanced community care: The Western Lapland Project.
Psychosis, 3, p. 1-13, 2011. DOI:10.1080/17522439.2011.595819.
SEIKKULA, J.; LAITILA, A.; ROBER, P. Making sense of multifac-
tor dialogues. Journal of Marital and Family Therapy, 37, 2011. Doi:
10.1111/j.1752-0606.2011.00238.x.
SEIKKULA, J.; TRIMBLE, D. Healing elements of therapeutic conver-
sation: Dialogue as an embodiment of love. Family Process, 44, p. 461-
475, 2005.
SELVINI-PALAZZOLI, M. et al. Paradox and counterparadox. New
York: Jason Aronson, 1978.
SHOTTER, J. Cultural politics of every day life. Social constructionism,
rhetoric and knowing of the third kind. Buckingham, UK: Open University
Press, 1993.
SHOTTER, J.; LANNAMANN, J. W. The situation of social construction-
ism: Its ‘imprisonment’ within the ritual of theory-criticism-and-debate.
Theory and Psychology, 12, p. 577-609, 2002.
STERN, D. The present moment in psychotherapy and every day life. New
York: Norton e Co., 2004.
STILES, W. B. Assimilation of problematic experience. In: NORCROSS,
J. C. (Ed.), Psychotherapy relationships that work: therapist contribu-
tions and responsiveness to patients, p. 357-365. New York: Oxford
University Press, 2002.
TIVAS E DIALOGICAS EM DISTINTOS CONTEXTOS E POPULACOES:
centre teora e prices 55
‘ARTHEN, C. Signs before speech. In: SEVEOK, T. A.; UMIKER—
OK, J. (Eds.), The semiotic web, p. 689-755. Amsterdam: Mouton
rer, 1990.
‘VARTHEN, C. An infant’s motives for speaking and thinking in the
. In: WOLD, A. H. (Ed.), The dialogical alternative: Towards a
of language and mind, p. 99-137. Oslo, Norway: Scandinavian
ersity Press, 1992.
GOTSKY, L. 8. Thought and language. KOZULIN, A. (Trans. ¢ Ed.).
bridge, MA: MIT Press. Original work published, 1934, 1986.
‘TSCH, J. Voices of the mind: a sociocultural approach to mediated
ion. London: Harvester/Wheatsheaf, 1991.
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Radical Presence-EJPC PTBR REV-MYRIAM ISADocument13 pagesRadical Presence-EJPC PTBR REV-MYRIAM ISAPérola SouzaNo ratings yet
- Problem Determined Systems: Towards Transformation in Family TherapylDocument13 pagesProblem Determined Systems: Towards Transformation in Family TherapylPérola SouzaNo ratings yet
- Cuidado VigilanteDocument15 pagesCuidado VigilantePérola SouzaNo ratings yet
- An Invitation To Social Constructionism, by Kenneth GergenDocument8 pagesAn Invitation To Social Constructionism, by Kenneth GergenPérola SouzaNo ratings yet