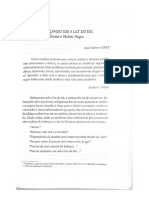Professional Documents
Culture Documents
O Olhar Do Observador - Watzlawick e Krieg
O Olhar Do Observador - Watzlawick e Krieg
Uploaded by
Ayana Sisi0 ratings0% found this document useful (0 votes)
80 views161 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
80 views161 pagesO Olhar Do Observador - Watzlawick e Krieg
O Olhar Do Observador - Watzlawick e Krieg
Uploaded by
Ayana SisiCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 161
Introdugaéo.... 7
Paul Watzlawick
Prefacio.... 13
Peter Krieg
Adeus a objetividade ..... 17
Ernst von Glasersfeld
O mito da onisciéncia e o olhar do observador
Mauro Ceruti
57
Como podemos observar estruturas latentes’
Niklas Luhmann
* Cultura <> Conhecimento.....
Edgar Morin
81
Para a autodesconstrugao de convencées.
Jean-Pierre Dupuy
Ficgaio e construgao da realidade sobre a distin¢gao entre
ficcdes no direito e na literatura ....
Peter M. Hejl
E tudo muito simples (radionovela)....
Siegfried J. Schmidt
Pontos cegos e buracos negros - Meios de comunicagao
como mediadores de realidades .. 125
Peter Krieg
Perspectiva interna e externa — Como aplicar o pensamento
sistémico ao cotidiano ... 135
Fritz B. Simon
Entre ousadia e confusao verbal 147
Helm Stierlin
Ciéncia e cotidiano: a ontologia das explicagoes cientificas ...... 163
Humberto R. Maturana
Motivos elementares e elementos basicos para
‘uma teoria de agées construtivistas. . 199 |
Karl H. Miller |
Circulos viciosos criativos: Para compreensao das origens....... 239
Jean-Pierre Dupuy e Francisco Varela
Os Autores
Paul Watzlawick
KE von Foerster se considera “filho de uma tipi-
ca familia vienense, portanto, uma deliciosa mis-
tura de antepassados de origem germanica, eslava e judaica,
formada por artistas, artesaos, engenheiros, camponeses, ar-
quitetos e advogados”. Esta descricao, no entanto, chega a ser
atenuada porque aquele mundo vienense de antes e depois da
Primeira Guerra Mundial era, sabidamente, um microcosmo de
idéias, escolas e movimentos culturais, artisticos, cientificos e
sociais, nico em sua maneira de ser, com efeitos que remanes-
cem até os dias atuais. E a propria familia de Heinz von Foers-
ter foi uma parte desse mundo: seu. bisavé deu a Viena sua
identidade urbana, sua avé foi uma das primeiras sufragistas
da Europa, um de seus tios foi Ludwig Wittgenstein, um outro
Hugo von Hofmannsthal.
Como se sabe, é mais facil empreender realizacdes ex-
traordinarias como filho de uma ascendéncia de classe média
ou até mesmo miseravel do que nas condigdes aqui esbocadas
superficialmente. Em sua juventude pretendia dedicar-se as
“Ciéncias Naturais”, o que para ele significava “uma mistura ro-
mantica de Fridtjof Nansen e Marie Curie”. Ele proprio se des-
8 Paul Watzlawick/Peter Krieg (Orgs.)
creve como um aluno péssimo que nunca fazia seus deveres;
esquiar, alpinismo, a banda de Jazz-Combo fundada por ele,
além de seu extraordinario sucesso como magico, nao lhe dei-
xavam tempo para essa tolice. Excegao feita A matematica e A
fisica; nestas matérias “eu sabia a resposta antes que me fizes-
sem a pergunta; tudo era evidente e perfeitamente claro”. (Isto
nos lembra o famoso matematico Gauss, que dizem ter declara-
do certa vez em sentido bem semelhante: “A solucdo eu ja en-
contrara — agora eu precisava descobrir somente os caminhos
pelos quais havia chegado a ela.”)
E justamente nessa fascinante capacidade dos que pos-
suem um talento especial que para nés, seres comuns, ha algo
magico. Como descreve Arthur Koestler em seu livro, A centelha
divina, raramente as descobertas sao aquilo que imaginamos,
isto é, algo completamente novo, mas sim bissociagées, que
Koestler considerava relacdes praticas ou “so mentais” entre
dois fatos, nunca antes estabelecidas, no entanto, perfeitamen-
te conhecidas isoladamente. Os resultados praticos e os efeitos
das bissociagées serao ainda mais surpreendentes e “magicos”
quanto mais conhecidos forem seus elementos individuais até o
momento isolados.!
Isto n&o € senao o que ocorre com a perplexidade que o
magico provoca em seus espectadores, e 0 jovem Heinz von
Foerster revelou-se, como ja mencionamos, um magico de habi-
lidade incomum. O ilusionista realiza algo “simplesmente im-
possivel” mas que acaba de ser feito diante dos nossos olhos.
Naturalmente esta perplexidade ocorre somente porque o es-
pectador mantém sua visao da “realidade” e a bissociacao ora
observada em sua realidade é “impossivel”. Sabemos que os
contemporaneos de Galileu se recusavam a olhar através do
seu telescopio porque aquilo que ele afirmava ter descoberto
simplesmente nao podia ser verdade.
Mas 0 ilusionista sabe algo mais: se ele cedesse as
pressdes dos seus espectadores boquiabertos e mistificados e
lhes explicasse a bissociacao (0 truque), o resultado provavel-
mente seria uma imunidade permanente contra cair novamen-
te nesse truque. O tio de Foerster, Ludwig, expressou este pro-
cesso da seguinte maneira:
Suponhamos que... [um] jogo seja assim: quem comeca
sempre tem a possibilidade de vencer por meio de um de-
O olhar do observador g
terminado truque muito simples. Mas ninguém se deu
conta disso, porque é um jogo. Nesse instante alguém nos
alerta e — tudo deixa de ser um jogo.
Na verdade isto significa...: que 0 outro nao nos alertou so-
bre alguma coisa mas que nos ensinou nao o nosso, e sim
um outro jogo. Mas, como o antigo se tornou obsoleto atra-
vés do novo? Agora temos uma outra visdo e néo podemos
continuar jogando inocentemente.”
Em 1956, quando Wittgenstein publicou esta idéia, seu
sobrinho ja havia comecado a aplica-la praticamente a ciéncia.
A respectiva bissociacao de Heinz von Foerster é aquela
entre observador e observado. Sabemos que a ciéncia classica
teve por objetivo pesquisar 0 universo em sua realidade objetiva
e independente do ser humano. Isto nao significa nem mais,
nem menos, a necessidade de suprimir qualquer contaminacao
subjetiva deste universo, inclusive 0 proprio observador, para se
chegar a esse universo objetivo. Desde 0 inicio do nosso século,
as duvidas quanto a exeqtiibilidade desse processo vém cres-
cendo. Comegou-se entao a comprovar que um universo de
onde se banisse todas as subjetividades nao seria mais obser-
vavel, justamente por isso.
A compreensao dessa interdependéncia de observador e
universo observado é a preocupacao principal do chamado
construtivismo radical que, desta forma, excede a teoria da rela-
tividade de Einstein (segundo a qual as observagées sao relati-
vas ao ponto de vista do observador) e o postulado da relagaéo
da desfocagem (segundo o qual a observacao exerce influéncia
sobre o observado). Neste contexto, vamos comparar 0 que
Schrédinger jA postulava em 1958, portanto, em uma época em
que a expressao construtivismo ainda era desconhecida no seu
sentido atual :
A concepcao do mundo sempre foi e continua sendo para
todos uma construgao intelectual; sua existéncia nao pode
ser comprovada de qualquer outra maneira.>
A relatividade do ponto de vista construtivista em rela-
40 ao nosso universo e a nds mesmos é expressa de maneira
especialmente clara no “Calculus for self-reference” de Varela:
O ponto de partida desse calculo [ ... ] € 0 estabelecimento
de uma distincao. Com este ato primitive da dissociagao,
10 Paul Watzlawick/Peter Krieg (Orgs.)
separamos aspectos que consideramos serem entao 0 pro-
prio universo. Partindo dai insistimos na prioridade do pa-
pel do observador, que faz suas distingdes nos pontos que
lhe convierem. Mas estas distingdes que, por um lado
criam nosso universo, por outro lado revelam justamente
as distingdes que nés fazemos e que se aplicam muito
mais ao ponto de vista do observador que @ real constitui-
cao do universo que, em conseqiiéncia da dissociagéo de
observador e observado, continua sempre incompreensivel.
A partir do instante em que observamos o universo na sua
esséncia especifica, esquecemos o que empreendemos para
encontra-lo nessa esséncia; e se recuarmos na historia até
© ponto como isto ocorreu, nao encontraremos nada além
do reflexo de nos mesmos no universo e como universo. Ao
contrario do que freqiientemente se supée, a analise cuida-
dosa de uma observacdo revela as particularidades do ob-
servador. Nés, os observadores, nos distinguimos justa-
mente pelo discernimento daquilo que, pelo visto, nao so-
mos, isto é, pelo universo.
Coube no entanto ao trabalho cientifico de Heinz von
Foerster estender esse ponto de vista construtivista a pratica-
mente todos os aspectos da existéncia humana no universo —
aos problemas da percepcao, da cognicéo e das demais fun-
codes do sistema neurolégico, da linguagem, da inteligéncia arti-
ficial, da biofisica e, sobretudo, ao conceito da auto-organizacao
de sistemas (Autopoiese). Os relatos desta edi¢ao comemorativa
devem fornecer uma visao global do significado deste preceito
sistémico para a moderna ciéncia natural.
Entretanto, estamos apenas comecando a avaliar qual a
importancia do preceito construtivista sistémico delineado por
Heinz von Foerster também para as ciéncias sociais e, sobretu-
do, para nossa compreensao de problemas humanos totalmente
concretos. Nao podemos esquecer que a psiquiatria ainda tra-
balha amplamente com o conceito da adaptagdo da realidade
como instrumento de graduacdo da satide ou perturbagao men-
tal e que constitui uma concepgao basica do ser humano e de
seu mundo circundante totalmente insustentavel para a visao
construtivista. A esta mudanca de pensamento da ménada
classica para a interacao sistémica devemos novas € promisso-
ras estratégias de solucéo nao somente no ambito clinico, mas
também social e organizacional, e até internacional.
di
© nosso aniversariante possa divulgar pelo menos um es-
e suas contribuigdes basicas para uma nova visaéo da
e, portanto, de nés proprios.
Notas
ler, Arthur, Der géttliche Funke, Scherz Verlag, Bern und
en, 1966.
stein, Ludwig, Bemerkungen tiber die Grundlagen der Ma-
ik, Bkackwell, Oxford, 1956.
inger, Erwin, Mind and matter, Cambridge University Press,
bridge, 1958.
wrela, Francisco; “A calculus for self-references”, Internat. Journal
ral Systems 2:5-24, 1975.
magine que vocé seja convidado em um salao vie-
nense no final de qualquer século. Os anfitrides,
pessoas civilizadas (polidas) e cultas, convidam regularmente
cientistas e técnicos de diversas areas, que fazem um relato re-
sumido sobre seus mais recentes trabalhos. Acompanhados de
vinho e pequenas iguarias, conversam em seguida sobre a pa-
lestra da noite e sobretudo sobre os métodos por meio dos
quais os palestrantes chegaram aos seus resultados ou afirma-
gdes. Esses saloes eram tradicionais na velha Viena e também
entre os cientistas fora de Viena eles eram e€ as vezes ainda sao
mantidos até os dias de hoje. Se vocé imaginar ainda que 0 an-
fitriao nao apresenta palestra alguma mas, através das suas
perguntas, As vezes desconcertantes, entremeando truques de
magica ocasionais, dos quais nao se percebe mais a longa e
cuidadosa elaboracao, reconduzindo a discusséo a sempre no-
vos e emocionantes apogeus, ent&o vocé ja tem uma idéia da-
quilo com que o livro de Heinz von Foerster tem a ver. Justa-
mente ele, que forneceu o pretexto deste livro, nao esta repre-
sentado por um trabalho proprio! Ou sera que esta? Todos os
14 Paul Watzlawick/Peter Krieg (Orgs.)
autores deste volume foram, mesmo que nao o saibam, por um
menor ou maior espaco de tempo, convidados de saldes foerste-
rianos. Suas dissertagdes também devem ser lidas como tenta-
tivas de respostas as perguntas de Heinz von Foerster. Nesse
sentido Heinz von Foerster esta representado duas vezes neste
livro: como o criador (inventor) de perguntas e como uma cria-
co (invencao) dos que respondem.
Para homenagea-lo em seu 80° aniversario, tentaremos
neste livro esclarecer sua influéncia, sobretudo a influéncia de
alguém que sempre pergunta, nas respostas dos autores e, as-
sim, seguir suas pegadas, o que em algum momento poderia le-
var o leitor a Heinz von Foerster como autor.
O nome Heinz von Foerster aparece nas notas de rodapé
da literatura cientifica das mais diversas areas. Ele é relaciona-
do ora com o construtivismo radical, ora com a cibernética,
com valores matematicos especificos ou com maquinas triviais
ou néo-triviais. Os autores deste livro séo representativos de
muitos daqueles que ele influenciou com seu pensamento e
com suas perguntas. Eles parecem estar relacionados em uma
seqtiéncia caética mas talvez seja possivel imprimir uma certa
ordem a esse caos:
Na tradigao da literatura construtivista o fim esta no
comego € 0 comeco no fim (expressao da circularidade do pen-
samento, que distingue o principio construtivista). Existindo
um construtivismo vivenciado, antes de tudo ele seria segura-
mente identificado como a biografia de Heinz von Foerster,
mas ela antes ainda devera ser reconstruida... Vamos entao
abrir 0 sal4o com uma cancéo de adeus que Ernst von Gla-
sersfeld, outro grande construtivista austro-americano, canta
em louvor 4 objetividade. Com isto estamos no meio do tema:
O universo como construcao do seu observador. Inicialmente
pretendemos circundar este tema historica e epistemologica-
mente, talvez com o “Mito da onisciéncia e a visao do observa-
dor’, de Mauro Ceruti, seguido da pergunta de Niklas Luh-
mann: “Como podemos observar estruturas latentes?” Edgar
Morin apresenta a questao da relacao entre cultura e conheci-
mento e seu compatriota Jean-Pierre Dupuy tenta langar uma
ponte entre as tradigdes do pensamento anglo-saxonico e fran-
cés, mas também da epistemologia para a literatura, com seu
trabalho, “Para a autodesconstrucao de convencées”. Entra-
mos um pouco em terreno literario ao que se associa também
O olhar do observador 15
o artigo de Peter M. Hejl sobre fungao e construc¢ao da realidade
na literatura e no direito. Bem caracteristico para as perguntas
de Heinz von Foerster é que as vezes elas levam os inquiridos a
divagacées e tentativas surpreendentes, 0 que também deve ter
ocorrido a Siegfried J. Schmidt, que apresentou suas respostas
(“é tudo muito simples...”) em forma de radionovela, que tam-
bém so se revela em sua plenitude ao ser ouvida. Aqui reco-
menda-se um tipo de leitura de 2° ordem, onde o leitor ouve a
si mesmo (ou a um outro leitor) durante a leitura, observando-
se portanto com os ouvidos. Com isto atingimos naturalmente a
area da producao artistica e, assim, da pratica social, um cam-
po que minha propria contribuicdo, “Pontos cegos e buracos
negros — a midia como mediadora de realidades”, procura
abordar (nao sem o estimulo da pergunta de Heinz von Foerster
aos documentaristas que sempre afirmam que relatam “como
era”: “Como vocé pode saber como era? Vocé somente pode sa-
ber 0 que vocé acha agora, como era...”). A partir daqui é curta
a distancia até os praticantes da terapia sistemica, que também
foram intensamente influenciados por Heinz von Foerster e pelo
trabalho de Fritz B. Simon, “Perspectivas internas e externas:
como podemos aplicar 0 pensamento sistémico ao cotidiano”.
Helm Stierlin, igualmente festejado neste ano, cujo 65° aniver-
sario e jubilacao da Universidade de Heidelberg na primavera
de 1991 foram festejados com um grande congresso em Heidel-
berg, no qual encontraram-se, nao por acaso, quase todos os
autores deste livro, contribuiu com “Entre ousadia e confusao
da linguagem — reflexdes sobre a teoria e pratica sistémica”.
Agora chegamos, por assim dizer, na Ultima curva do nosso sa-
lao circular e nos movemos de encontro ao final e novamente ao
comego, inicialmente com a dissertagao de Humberto Matura-
na, “Ciéncia e cotidiano: a ontologia de explicagées cientificas”.
Com Karl H. Miller, mais um convidado do salao vienense,
anuncia a palavra com a contribuicao: “Motivos elementares e
elementos basicos para uma teoria da ac&o construtivista”.
Como véem, almejamos um fechamento do circulo por assim di-
zer em um “nivel mais elevado” onde partindo da teoria e, atra-
vés da pratica, visamos a fusao de ambas. E que melhor titulo
poderiamos dar ao capitulo final de um livro construtivista se-
nao este de Francisco Varela e Jean-Pierre Dupuy: “Circulos vi-
ciosos criativos: para a compreensao das origens”.
A intengao deste livro foi a congratulacdo e o agradeci-
mento a Heinz von Foerster de alguns de seus amigos. Ele nada
16 Paul Watzlawick/Peter Krieg (Orgs.)
sabia sobre esta intengao (se sabia, entéo, mais uma vez ele de-
sempenhou o papel de nao suspeitoso com perfei¢ao).
Agradecimento também aos autores que participaram
com alegria desta “con-spiracao” (no sentido de Maturana). Fi-
nalmente, o agradecimento também a Mai von Foerster que
contribuiu com muitos nomes e enderegos e nao tem qualquer
responsabilidade sobre a auséncia de tantos nomes que ainda
nao constam deste livro. Heinz von Foerster tem tantos amigos,
que eles (mesmo considerando apenas os ainda vivos) teriam
facilmente conseguido publicar a homenagem em varios volu-
mes
Peter Krieg
Maio de 1991
Ernst von Glasersfeld
ce s mudancas ambientais, sociais e as transforma-
des radicais dos fundamentos ideolégicos sem-
pre parecem mais abrangentes e de conseqiiéncias mais graves
que todas as revolugées da historia universal precedente para
as geracédes que as vivenciam. Idéias que nés mesmos fomos
forgados a reestruturar consumiram-nos esforcos muito maio-
res que aquelas que ja recebemos reestruturadas. Todavia eu
gostaria de ressaltar que nas tltimas oito décadas que Heinz
von Foerster tera vivido no outono de 1991 houve mais revolu-
des que em qualquer outra época. Isto se aplica sobretudo a
perspectiva pela qual um pensador deve observar as experién-
cias vividas e ao ideario simplesmente chamado de conheci-
mento. Isto nao significa que em outros tempos, alguns, isola-
damente, nao tenham tentado avangar na diregdo que agora co-
mega a se impor, mas sempre foram atropelados pelo fator da
tradicgdo e suas tentativas ficaram, como raridades, 4 margem
da hist6ria das idéias.
A revolugéo que tomou impulso no nosso século vai
mais fundo que a copérnica, que baniu o homem da sonhada
18 Paul Watzlawick/Peter Krieg (Orgs.)
primazia do centro do universo. Depois de Copérnico ainda po-
diamos nos considerar o “rei da criagdo” e alimentar a crenga
de sermos os Unicos capazes de compreender, pelo menos a
grosso modo, a natureza da criacao. O século XX tornou essa
crenga ilusoria. O que quer que entendamos sob “conhecimen-
to”, nado pode mais ser a imagem ou a representacdo de um uni-
verso independente daquele vivido. Heinz von Foerster disse
isto com uma precisao exemplar: “Objetividade é a ilusdo de
que as observagées podem ser feitas sem um observador.”
Isto € mais que um bon mot. Como tantas outras formu-
lagdes brilhantes com as quais Heinz von Foerster conduziu o
‘progresso da cibernética, que nao é so um slogan eficaz mas
também a expressdo dos efeitos das “revolugées” cientificas
com maior ou menor interdependéncia, ocorridos no decorrer
dos Ultimos cem anos, das quais até hoje somente poucos to-
maram plena consciéncia de toda sua extensao.
Fala-se freqtientemente de “conhecimento” e de “teoria do
conhecimento” e a tendéncia é entender a palavra como se se tra-
tasse de compreender algo ja existente antes do ato de conhecer,
quase como se fosse uma descoberta. Entendendo desta forma,
cairemos inevitavelmente em uma forma de realismo ingénuo, que
consiste na conviccao de que nés podemos “compreender” as coi-
sas como elas so por si, como se essa acdo de “compreender” nao
tivesse influéncia sobre a natureza do conhecido.
Quem considerar que percepgdes e observacdes nao
caem sobre um sujeito passivo simplesmente como flocos de
neve pré-formatados mas que sao o resultado de uma atividade
de um sujeito ativo devera questionar-se sobre como essas ati-
vidades se desenvolvem. Que o sujeito atuante e a caracteristi-
ca da sua razdo sao determinantes nessa atuacao, certamente,
nao é nenhuma nova descoberta. Protagoras, quinhentos anos
antes da era crista, ja dizia que o homem é a medida de todas
as coisas (e determina) que elas sdo e como elas sao.' Socrates
contudo, no didlogo de Platao, Teeteto, defende a idéia de que a
percepcao pressupée algo perceptivel.? A principal corrente da
filosofia ocidental fundamentou isto quase sempre no sentido
realista e afirma que os produtos de percepcdo e observacao
sempre deverao ser imagens ou representacées de coisas que,
independente do individuo, ja “existem” em si e por si. Apesar
disto 0 conceito de Protagoras continuou encontrando defenso-
res convictos no curso da histéria.
O olhar do observador 19
Se menciono alguns renitentes que nao concordavam
com a concep¢ao realista convencional, tanto na filosofia como
no cotidiano, nao quero demonstrar com isto que a revolucao
atual basicamente reaquece antigas idéias e nao representa
nada de novo. Na minha opiniao isto seria uma interpretagao
incorreta. Ao contrario, considero importante comprovar que 0
aspecto relativista, descoberto na era pré-socratica, em parte
intuitivamente, em parte com base em uma logica ainda nao
formalizada, foi reafirmado com argumentos “ ‘empiricos” im-
previsiveis da area cientifica, no decorrer do ultimo século.
Ainda que a historia das idéias nunca tenha transcorri-
do em uma seqiiéncia ordenada e linear, na retrospectiva pode-
mos isolar determinados detalhes que, posteriormente, poderao
ser classificados de desenvolvimento. Na época de Protagoras,
Xendfanes ha muito havia constatado que mesmo se um homem
conseguisse imaginar o universo tal como ele é, ainda assim nao
poderia compreender a concordancia.? Esse paradoxo atormenta
a todos que querem supor que o conhecimento pode refletir um
universo independente da experiéncia. George Berkeley talvez
tenha expressado isto da maneira mais clara possivel quando
afirmou que idéias somente podem ser comparadas com idéias
mas nao com o que elas devem representar.* Esta constatagao
tornou-se o principal argumento dos céticos e continua sendo
tao incontestavel quanto naquela época, exceto quando supo-
mos uma capacidade mistica, que permite ao sujeito obter co-
nhecimentos através de um caminho inacessivel a razdo.
A quase totalidade dos céticos entrincheirou-se nessa
posi¢ao intangivel e se contentou em repetir que um conheci-
mento seguro do universo seria impossivel. Justamente através
desta obstinada negacao eles contribuiram definitivamente pa-
ra que o conceito do conhecimento ndo tenha sido contestado.
Além disso, em todos os tempos confiamos em determinados ti-
pos de conhecimento. Todos, sejam realistas ou cé icos, tiram
conclusées proveitosas de experiéncias e aprendem muito no
cotidiano, de que, por motivos praticos, nao podemos nos dar
ao luxo de duvidar. Considerando que tal conhecimento nao
pode ser importado do universo exterior como produto acabado,
devemos supor que ele seja construido pela razdo. Mas esta
consideracao levanta a questao irrefutavel, de como a raz4o é
capaz de produzir algo aproveitavel. Este é 0 tema para o qual
eu compilei algumas observacées.
20 Paul Watzlawick/Peter Krieg (Orgs.)
O mistico irlandés John Scottus Eriugena (810-877
d.C.) j4 expressou isto em poucas linhas que atualmente podem
servir de lema do construtivismo radical:
Assim como o sabio artista cria sua arte de si e em sie
nela prevé as coisas que criara... assim o intelecto cria sua
razdo de si e em si, na qual ele pressente e predestina to-
das as coisas que deseja realizar.>
Eu nfo sei se Vico e Kant leram Eriugena. E improvavel
— uma de suas obras constava do index — e sem importancia
porque ambos os filésofos, que viveram quase um século de-
pois, puderam chegar a posigdes semelhantes por suas pro-
prias conclusoes.
Vico resumiu o pensamento da auto-organizagéo cogni-
tiva no principio de que Deus poderia (re)conhecer o universo,
visto que Ele mesmo 0 criou. Mas o homem s6 (re)conhece aqui-
lo que ele mesmo realiza.© O proprio Vico ja havia percebido
que quando falamos de “fatos” referimos-nos, ao menos incons-
cientemente, a alguma coisa realizada, porque a palavra factum
deriva do latim, do verbo facere. (Mesmo que Vico nao tenha
mencionado isto, surpreendentemente a palavra “fato” em ale-
mao — Tatsache — fornece uma analogia por igualmente conter
a raiz de fazer.)
Para Vico, as coisas com as quais compomos nosso mun-
do de experiéncias sao construidas por nds mesmos. Ele desen-
volve esta teoria a partir da afirmacao de que 0 homem baseia seu
universo nos conceitos do ponto e da unidade, criando formas a
partir de pontos e produzindo ntimeros a partir de unidades.”
Tudo isto seria obra da imaginacéo humana. A ciéncia humana,
ele sugere, “nao seria senao 0 esforco de relacionar coisas de ma-
neira harmoniosa”. Nos seus textos ele se reporta repetidamente a
matematica, que denomina de scientia operatrix. Parece-me justi-
ficado entender a “harmonia” das relagées tal qual os matemati-
cos, isto €, como corregao, simplicidade e elegancia.
Mas a dedugao desta alegacgao sé é mencionada de for-
ma um tanto incoerente por Vico. Somente em Kant, que consi-
dera a analise da razao a principal preocupacao, 0 conceito do
conhecimento € separado logicamente daquele da descoberta de
uma realidade pré-formatada. No prefacio da segunda edicao da
Critica ele escreve:
O olhar do observador 21
-. que a razo somente reconhece aquilo que ela mesma
cria, de acordo com as suas concepgées, que seus julga-
mentos devem ser precedidos de principios segundo leis
estaveis, forgando a natureza a responder a suas pergun-
tas, mas ndo precisa permitir que ela simplesmente a do-
mine; pois neste caso as observacées casuais, nao elabora-
das segundo planos previamente projetados, nao estariam
relacionadas em uma lei absolutamente logica, que a razao
afinal busca e necessita.®
No inicio do segundo paragrafo da Critica ele expoe isto
de tal maneira, que antecipa uma grande parte do construtivis-
mo moderno:
Téo-somente a relacdo (conjunctio),... jamais podera atingir-
nos através dos sentidos,... porque ela é um ato de espon-
taneidade da imaginacao e, como devemos chamé-la de ra-
zao para distingui-la da sensibilidade, entao, toda relagao,
consciente ou nao,... € um ato da compreensao...
Ele ainda acrescenta que chama este ato do intelecto de “sinte-
se” para chamar atengao para o fato de
que nada podemos imaginar além do ligado ao objeto, sem
antes termos nés mesmos feito a relacdo e, sob todos os
aspectos a relacdo é a tinica representacao que nao é for-
necida pelo objeto, podendo ser executada somente pelo
préprio sujeito, por ser um ato da espontancidade.”
Dois pontos so de suma importancia. Primeiro, quando
Kant fala da “relagao (conjuncto)”, isto inclui relacionar tudo que o
nosso raciocinio possa realizar. O que significa que relacionar nao
abrange somente a reuniao de objetos de diversas caracteristicas
sensoriais mas também a associacao dos objetos ja reunidos, a
percepc¢ao ou imaginacdo de disposicées espaciais ou seqiiéncias
temporais e a “relagaéo” de uma experiéncia com outra. Resumin-
do, ela engloba todas as formas de relacdo, com ajuda das quais
nosso raciocinio seja capaz de construir idéias conjunto de idéias.
Portanto, tudo que podemos considerar reunido e a que podemos
atribuir “estrutura” baseado em uma anilise, é produto da nossa
propria e caracteristica capacidade imaginativa.
A segunda exposicao refere-se a uma palavra da citacao
de Kant que é extraordinariamente enganadora. Kant diz ali
22 Paul Watzlawick/Peter Krieg (Orgs.)
que a relagao é a Unica representacdo que nao pode ser forneci-
da por objetos. Esta formulagao induziu leitores superficiais a
atribuirem ao objeto e depois 4 “coisa em si” propriedades e
uma forma de existéncia que jamais poderiam ter para Kant.
Kant afirma expressamente que nao podemos imaginar
nada relacionado no objeto sem antes termos feito essa rela-
cao. O objeto, desde que consista de mais de uma percepcao
sensorial, foi composto por nosso ato de imagina¢ao, nao po-
dendo, de maneira alguma, ser considerado como pré-formata-
do. Isto torna a “coisa em si” uma construgao que so podera
ser projetada para o universo 6ntico, isto é, para a “realidade”
que supomos esteja do outro lado do nosso universo experien-
cial, se a tivermos construido com auxilio dos nossos conceitos
de relacao.
Esse ponto de vista kantista é especialmente relevante
quando lemos em Piaget “l’object se laisse faire” (o objeto € ma-
nejavel), porque mesmo na epistemologia genética a hipotese
fundamental é de que a crianga precisa construir mentalmente
os objetos antes de poder trabalha-los no plano consciente.!°
Enquanto a filosofia académica continuava empenhada
em adotar, se nado uma conduta, ao menos a necessaria assimi-
lagao do conhecimento ao universo éntico, independente de ex-
periéncias, alguns dos maiores cientistas abandonaram essa
ambigao por considerarem-na descabida. Hermann von Helm-
holtz, por exemplo, que nas suas vastas analises cientificas
considerava 0 pensamento de Kant como 0 unico aceitavel, res-
pondeu um século mais tarde (1881) a questao das leis da na-
tureza e sua objetividade baseado em sua propria pratica: “O
principio da causalidade nao é na realidade senao a condigao
de normalidade de todas as ocorréncias naturais.”"!
E no seu legado encontrava-se a exposicao:
Em comparacao com outras hipoteses referentes a diver-
sas leis da natureza, a lei causal somente constitui uma
excecéo nas seguintes relagdes: 1. Quando é a condic&o
para a aplicabilidade de todas as outras. 2. Nos oferece
a unica possibilidade de conhecer algo que ainda nao foi
observado. 3. E a base necessaria para um procedimen-
to direcionado para um objetivo. 4. Somos levados pela
mecanica natural das relagdes da nossa imaginacao
O olhar-do observador 23
Desta forma os motivos mais fortes impelem-nos a desejar
que a lei causal esteja correta; ela é a base de todo racioci-
nio e comportamento. '?
Estes quatro itens séo um resumo sucinto de pensa-
mentos que David Hume publicou no século XVIII em seu En-
quiry concerning human understanding e que despertaram Kant,
como ele mesmo afirmou, do seu devaneio dogmatico. Muitos
cientistas do século XIX permaneciam imperturbaveis no seu
devaneio. Helmholtz no entanto levou o despertar a sério. Em
sua palestra, “Os fatos na percep¢ao”,!3 ele assume nado so a
opinido de Kant, de que a singularidade dos nossos orgaos sen-
soriais determina a qualidade das nossas percepgdes, como
também a dificil idéia de conseqiiéncias mais sérias de que
tempo e espaco devem ser considerados estrutura conceitual
inevitavel da nossa razdo e nao como circunstancia do universo
objetivo.
Admitida essa idéia, ela trara uma mudanga radical no
conceito do conhecimento, nao somente no sentido do conheci-
mento genérico e pratico mas também em tudo que considera-
mos cientifico e, portanto, particularmente confidvel. Quando
tempo e espaco sao coordenadas ou principios ordenadores da
nossa experiéncia, jamais poderemos imaginar coisas além do
universo experiencial porque a forma, a estrutura e a ocorrén-
cia dos fendmenos e disposigées de qualquer natureza sao im-
pensdveis sem este sistema de coordenadas no préprio sentido
da palavra. O que denominamos de conhecimento portanto ja-
mais podera ser a imagem ou representacdo de uma “realidade”
intocada pela experiéncia. A busca do conhecimento que so-
mente podera ser “real” no sentido convencional quando corres-
ponder fielmente a objetos existentes “em si” sera entao ilusd-
ria.
Neste aspecto 0 conhecimento de maneira alguma perde
sua importancia fundamental. Seu significado e seu valor sao
no entanto outros. O importante nao é a coincidéncia com uma
realidade insondavel mas o servigo que o conhecimento nos
presta. Maturana afirma que “conhecimento é a capacidade de
agir adequadamente”.!4 Ao que eu acrescento que “o conheci-
mento € a capacidade de compreender”, porque o raciocinio
muitas vezes nos € mais importante que a agao. Em ambos os
setores estamos ativamente empenhados em construir uma se-
'
|
24 Paul Watzlawick/Peter Krieg (Orgs.)
qiiéncia de elementos que nos permita reconquistar ou obter o
equilibrio. No primeiro caso a seqiiéncia consiste de elementos
sensérios-motores, no segundo, de conceitos (e como os concei-
tos geralmente estao ancorados no sensério-motor, experimen-
tamos os dois setores quase sempre de maneira conjunta).
Na cibernética a palavra “modelo” tem um significado
especial. Enquanto na linguagem cotidiana geralmente define
um ideal segundo o qual alguma coisa deve ser construida ou
uma imagem de alguma outra coisa modificada em alguma di-
mensao, na cibernética 0 modelo muitas vezes € uma constru-
cao da qual espera-se que ela possa exercer a fungdo pelo me-
nos aproximada de um objeto concreto cuja estrutura dinamica
nao pode ser diretamente analisada ou reproduzida. Este final-
mente é o sentido exato de que necessitamos quando deseja-
mos dizer que o conhecimento abstrato consiste de modelos
que permitem a nossa orienta¢ao no universo experiencial, pre-
ver situagées e as vezes até determinar experiéncias.
Deste principio provém a afirmacao contraditoria da
teoria do conhecimento de que o papel do conhecimento nao
consiste em refletir a realidade objetiva mas sim em capacitar-
nos a agir em nosso universo experiencial e atingir objetivos.
Dai vem o fundamento criado pelo construtivismo radical de
que o conhecimento deve condizer mas nao precisa coincidir.
A primeira vista pode parecer que esta mudanca no
conceito de conhecimento pode exigir uma ou outra adaptagao
do nosso raciocinio mas, no geral, nao modifica muito a ima-
gem habitual do universo. Poderiamos supor que, por exemplo,
uma teoria, da qual pode-se dizer que ela condiz com 0 universo
objetivo, nao precisa ser uma imagem exata mas, por condizer,
reflete, em certo sentido, a estrutura desse universo. Isto no en-
tanto é paralogismo porque a conclusao de que uma teoria con-
diz baseia-se, na pratica, tnica e exclusivamente no fato de nao
ter fracassado até o momento.!® O paralogismo parecera plausi-
vel enquanto considerarmos somente a associacao tedrica como
construcao cognitiva, mas tacitamente continuamos acreditan-
do que os elementos que a compdem deverdo estar adequados
ao universo objetivo. Que isto nao precisa ser necessariamente
assim, Kant ja viu e afirmou no primeiro paragrafo da citagao
acima: “Que a razdo sé admite o que ela cria segundo suas pro-
prias concepcées.”
O olhar do observador 25
Do ponto de vista construtivista, a adaptagao nunca é
uma equiparagao e sim 0 desenvolvimento de estruturas, seja
de acao ou raciocinio, que presta o servico esperado no univer-
so experiencial. E 0 universo experiencial € sempre ¢ exclusiva-
mente um universo estruturado por conceitos que nés mesmos
criamos “segundo concepgao da nossa razao”.
Para ciéncia e filosofia da ciéncia 0 aspecto construtivis-
ta representa uma mudanca drastica que mal seria estudada
seriamente se a propria ciéncia nao tivesse aberto perspectivas
e revelado fatos nao mais compativeis com a teoria convencio-
nal do conhecimento.
Nos anos trinta varios fisicos afirmaram categoricamen-
te que a teoria da relatividade e a mecanica quantica provoca-
ram contradicées na busca do conhecimento objetivo, entretan-
to, demorou muito até que esse reconhecimento comecasse a
influenciar a imagem universal genérica. Gotthard Giinther for-
neceu uma brilhante sinopse no seu ensaio, “A realidade parti-
da”, redigida em 1958:
Até agora a filosofia moderna praticamente nao se dispds a
prestar contas sobre as conseqiiéncias simplesmente ca-
tastroficas da atual situacdo cientifica.'°
Essa morosidade na integragaéo e no processamento de
novos resultados cientificos nao é lamentada somente pela filo-
sofia. Uma area respeitavel e muito atuante da psicologia é 0
estudo da percepgao. Esta area foi inicialmente dividida em
segmentos separados, cada um tratando respectivamente de
um tipo de sentido. O estudo do universo experiencial visual ra-
ramente se preocupa, quando o faz, com a pesquisa na area da
audicado. Assim, por exemplo, a psicologia da audicdo produziu
uma respeitavel literatura sobre um fendmeno classificado de
efeito Cocktail Party, enquanto a psicologia da visao a cita mas
nunca se aprofundou no seu estudo. Para experimentar esse
efeito ndo precisamos de nenhum laboratério. Podemos produ-
zi-lo quando, como o proprio nome sugere, somos forgados a
ouvir uma histéria macante em uma festa, sendo que, atras de
nds, esta em andamento uma conversa que nos interessa muito
mais. Poderemos notar entao que a maior parte da nossa aten-
cao estara voltada para tras e ao chato, que tenta nos persua-
dir, dedicamos somente aquele minimo suficiente para emitir,
de vez em quando, um som cordial em uma de suas pausas. O
26 Paul Watzlawick/Peter Krieg (Orgs.)
que surpreende os psicélogos nessa situacdo € 0 fato de que o
ouvinte € capaz de desviar sua atencdo no campo auditivo de
um “estimulo” para outro, sem que esses estimulos se modifi-
cassem de alguma maneira. Isto contraria a teoria ingénua do
estimulo, segundo a qual a percepcao é conduzida pelas cir-
cunstancias do meio. O mesmo vale para o campo visual, como
deixei amplamente comprovado.'? Nao é tao evidente porque
normalmente dirigimos o olhar imediatamente para onde dese-
jamos ver alguma coisa. Mas com um pouco de paciéncia pode-
mos nos assegurar de que somos perfeitamente capazes de diri
gir a atencdo, por exemplo, para a porta a margem do campo vi-
sual, sem desviar os olhos do livro que temos 4 nossa frente.
Portanto, nao se trata somente de ligar uma atividade
da imaginacao, como afirmou Kant baseado em reflexées logi-
cas, mas também a propria percepcao sensorial demonstra ser
conduzida pelo sujeito, baseado em constatagdes empiricas.
A auto-organizacao da percepcdo encontra, entretanto,
uma comprovacao muito mais concludente em uma constata-
cao de Heinz von Foerster, formulada ha muitos anos no seu
“Principio da codificagaéo nao-diferenciada”:
A reagao de uma célula nervosa nao informa o carater fisi-
co das coisas que provocaram a reacdo. E informado so-
mente “quanto” de estimulacéo ocorreu nesse ponto do
meu corpo, mas nao “o que”.!®
Assim como o movimento auténomo da atengao no cam-
po visual, que eu tenha conhecimento, ainda nenhum livro di-
datico de ciéncia da percepcao se referiu ao Principio de Foers-
ter. Isto é lamentavel por diversos motivos, mas quero mencio-
nar aqui somente aquele de fundamental importancia para as
consideragGées epistemologicas. A meu ver, um modelo atual de
cognic&o nao pode se basear em representagdes comprovada-
mente insustentaveis pela ciéncia.
Também na pesquisa especializada, uma das principais
atividades consiste em conciliar os modelos construidos para a
“explicacao” de diversos fendmenos. Este é 0 motivo pelo qual
os fisicos ha anos perdem noites de sono para formularem uma
teoria que supere as discrepancias entre imaginagao de ondula-
cao e imaginagao corpuscular no tratamento de luz e matéria. A
proposta de Bohr de atenuar tais discrepancias considerando
O olhar do observador 27
representacées incompativeis como “complementares” € um ar-
tificio sutil que, do ponto de vista epistemoldgico, se revela
como confirmacao de que a razao humana nao é capaz de pro-
duzir uma representacdo coerente da natureza do universo 6n-
tico. Para os trabalhos praticos dos fisicos que se ocupam com
experimentos, isto é, com vivéncias limitadas e controladas, isto
nao chega a ser impressionante. Abstratamente seria mais sim-
ples e econémico trabalhar em todos os experimentos com as
mesmas representagdes mas, para a construcao de modelos
isolados que deverao ser aplicados em situac6es com delimita-
¢ées exatas, isto nado é imprescindivel. (Enquanto eu tiver so-
mente que solucionar problemas oriundos da lavoura da minha
fazenda, posso supor confiantemente que a terra é uma placa
mais ou menos plana.)
Para os filosofos da ciéncia as incoeréncias de conceitos
entre disciplinas de estudos sempre sao algo inquietante. Quan-
do entao se trata de um resultado, como aquele que Heinz von
Foerster resumiu no principio mencionado, gostariamos que
houvesse um motim, porque esse resultado derruba, por assim
dizer, o fundamento no qual devem se basear todas as teorias
realistas do conhecimento. A suposicao de que os nossos senti-
dos podem transmitir-nos qualquer coisa objetiva do universo
6ntico caduca quando é verdade que os sinais de nossas facul-
dades de percepcao sequer distinguem algo visto de algo ouvido
ou algo percebido através do tato.
Pelo meu conhecimento, esse resultado cientifico ainda
nao provocou o menor eco. Mesmo que algum dia cheguemos a
conclusao de que as informagées do sentido visual apresentam
variagdes neurofisiologicas em relagao as da audic¢ao e do senti-
do do tato, que nao se baseia somente, como dito por Foerster,
na fonte topografica dentro do organismo da percepg¢ao, todos
aqueles que desejarem falar da representacao do universo exte-
rior ou conhecimento objetivo, deverao, inicialmente, desenvol-
ver um modelo que esclareca como a “objetividade” poderia ser
preservada ou criada nessas circunstancias.
Do ponto de vista construtivista a nao-diferenciacdo da
codificagao do sistema nervoso é uma oportuna confirma¢ao da
afirmagao que, todo o conhecimento no universo experiencial
deve ser construido, se relacionar exclusivamente nesse univer-
so experiencial e nao pode ter qualquer pretensao ontoldgica
em relacao 4 objetividade. Por outro lado, desejo salientar mais
28 Paul Watzlawick/Peter Krieg (Orgs.)
uma vez que, tanto na ciéncia como na teoria do conhecimento
construtivista, as confirmacées empiricas jamais poderado ser
apresentadas como prova porque, tanto la como ca, construi-
mos modelos que deverao comprovar sua eficiéncia no presente
vivido e em situacdes de opcao propria.
Tendo em vista a filosofia convencional que sempre se
dedicou as “verdades” eternas, independentes do sujeito pen-
sante, é, finalmente, necessario enfatizar mais uma vez que o
construtivismo radical nao pretende nem pode ser outra coisa
senao a maneira de pensar sobre 0 unico universo a que temos
acesso e este € 0 universo dos fenémenos que experimentamos.
Por isso a pratica da nossa vida também é a conexao na qual
esse pensamento deve se confirmar.
Notas
Hermann Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker, Rowohlt, Ham-
burgo, 1957, p.122.
Platao, Teeteto, p. 160.
Hermann Diels, op.cit., p. 20.
*
George Berkeley, A treatise concerning the principles of human
knowledge, I, § 8.
Periphyseon, vol. 2, 577a-b, citado em Dermot Moran, “Nature, Man
and God in the Philosophy of John Scottus Eriugena”, in Richard
Kearney (ed.), The irish mind, Wolfhound Press, Dublin, 1985.
Giambattista Vico, De antiquissima Italorum sapientia (1710),
Stamperia de’Classici Latini, Napoles, 1858.
Loc. cit, cap. 1, § 1°.
Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, 1787, Raymund
Schmidt (ed.), Felix Meiner Verlag, Hamburgo, 1956, B XIII.
Loc. cit., B 129-130.
o
&
Jean Piaget, La construction du reel chez Venfant, Delachaux et
Niestle, Neuchatel, 1937.
No complemento ao seu ensaio “Uber die Erhaltung der Kraft”
(1862/63), in Populdre wissenschajtliche Vortrige, Braunschweig,
5* edicdo ampliada, 1903.
O olhar do observador 29
12 Koenigsberger, Leo, Hermann von Helmholtz, vol. 1, Braunschweig,
1902/03, p. 247. (Por no ter tido acesso a versao original em ale-
mao, extrai essa citagao da tradugdo de Malcolm Lowes para o in-
glés do volume Schriften zur Erkenntnistheorie, editado por Moritz
Schlick ¢ Paul Hertz — Berlim, 1921 — e traduzi novamente para
o alemao.)
13 Hermann von Helmholtz, “Die Tatsachen in der Wahrnehmung’,
stra na Universidade Friedrich Wilhelm, 1878, in Vortrdige und
Braunschweig, 1884, vol. II, pp. 387-406.
jumberto Maturana, “Biology of cognition”, in Maturana & Varela,
Autopoiesis and cognition, Reidel, Dordrecht/Boston,1980, p. 53.
também é a implicacdo mais profunda, muitas vezes omitida,
idéia de Popper, colocando falsificacio no lugar da verieagao
porque esta ultima nunca pode ser executada em um sentido obje-
tivo. O Construtivismo, entretanto, nao coincide com a teoria de
Popper, de que a seqiiéncia continua de falsificacdo € nova hipéte-
se representam uma aproximac4o ao universo éntico. Vd. Conjec-
tures and refutations, Kegan Paul, Londres, 1962.
Veja Augenblick, 3° ano, revista 3, 1958, p. 9.
Im modelo de consciéncia da construcao abstrata de unidades e
_ nimeros’, in Ernst von Glasersfeld, Wissen, Sprache und Wirklich-
keit, Vieweg Verlag, Braunschweig/Wiesbaden, 1987.
' Heinz von Foerster, “On constructing a reality”, in F. E. Preiser
(ed.), Environmental design research, vol. 2, Dowden, Hutchinson
& Ross, Stroudsburg, 1973, p. 38.
Mauro Ceruti
“Paradoxo = aquilo que corréi a legitimidade do ortodoxo”
“Verdade = a descoberta de um mentiroso”
“Conhecimento = acontece quando a ignorancia é ignorada”
“Aprender = aprender a aprender”
“Ciéncia = a arte do discernimento”
“Observador = aquele que cria um universo, que faz um dis-
cernimento”
“Objetividade
nao interferem nas descricdes de suas observagées”
acreditar que as caracteristicas do observador
“Construtivismo = quando 0 conceito-descoberta é substituido
pelo conceito-invencao”
“Realidade = um apoio confortavel mas supérfluo decorrente
do dialogo, quando a manifestacao (denotativa) da linguagem
é confundida com sua funcao (conotativa)”
“Didlogo
“Etica = como falar; nao podemos falar de ética sem sermos
ao mesmo tempo moralistas”
ver-se com os olhos de outrem”
Heinz von Foerster
a2 Paul Waizlawick/Peter Krieg (Orgs.)
Heinz von Foerster é um dos pensadores mais influen-
tes, radicais e sérios da segunda metade do nosso século. Disto
eu tenho profunda conviccao. E no entanto tenho dificuldades
em relacionar a razao da sua influéncia com uma atribuicao es-
pecifica, mesmo que seja a cibernética. Isto também se aplica, e
especialmente, quando eu procuro imaginar onde e de que for-
ma 0 seu pensamento afetou a minha maneira de aproximacao
dos problemas da Filosofia, da Epistemologia e da Psicologia. A
grandeza de Heinz von Foerster consiste em ser uma espécie de
novo Socrates do pensamento cibernético. Ainda genérica mas
fundamentalmente, o Sdécrates de uma nova relacéo com o co-
nhecimento. Foi pouco, mas fundamental, o que Heinz von
Foerster escreveu com relacgao a sua obra de inestimavel impor-
tancia, como articulador de novas idéias para a reformulacdo
de problemas classicos bem como de novos tipos de problemas
e perguntas. Com efeito Heinz von Foerster nao € somente um
grande cientista e epistemdlogo mas também um terapeuta lin-
gilistico (no mesmo sentido em que o foi Wittgenstein), sim, vou
ainda mais além e 0 classifico de mestre.
As paginas seguintes sao algumas anotacées dispersas,!
encontradas no inicio de um estudo filoséfico, para o qual o en-
contro com Heinz von Foerster foi um marco decisivo.
1. A tradi¢ao cientifica moderna comega com o desapa-
recimento, podemos até mesmo dizer, com a exploséo de um
cosmo finito, cujos limites fisico e simbélico assumiram sua for-
ma concreta na figura das esferas celestes, que pareciam de-
marcar os limites intransponiveis do universo imaginavel. O ob-
servador desse universo acreditava portanto ser perfeitamente
viavel conceber 0 universo discursivo do conhecimento como
universo natural isomorfo. Deste ultimo resultariam os limites
conhecidos e discerniveis. O cosmo, tal qual se origina das re-
volugdes césmicas e fisicas que marcam o surgimento da era
moderna, nao oferece mais limites evidentes e se apresenta ili-
mitado no tempo e no espago, devendo, por motivos concluden-
tes, ser considerado infinito. Com isto surge o problema de defi-
nigao de um novo universo discursivo do conhecimento. A idéia
basica que envolveu a descoberta desse universo discursivo
consiste na convicgao de poder encontrar um nucleo limitado de
leis, condigdes, metodologias etc., As quais as multiplas dimen-
sdes daquele cosmo pudessem ser reduzidas. Tentou-se redefi-
nir essa idéia inimeras vezes por meio de uma série de estraté-
Oolhar do observador 33
gias. Eu recomendo definir o seu nucleo imutavel de estratégia
da exploracdo. Para caracterizacéo dessa estratégia podemos
listar uma série de suposigdes: cada aumento do conhecimento
causa uma diminui¢éo do desconhecimento; uma vez que de-
terminados setores e zonas problematicas tenham ficado defini-
tivamente acessiveis ao “método cientifico”, eles sairao definiti-
vamente do universo daqueles discursos e métodos considera-
dos nao-cientificos; 0 curso do conhecimento se desenvolve em
um sentido claro. Retrocessos e desvios permanecem sempre
subordinados ao sentido basico; a missao das pesquisas cienti-
ficas e da filosofia consiste na distincao dos problemas “reais”
dos pseudoproblemas, resolvendo estes e dissolvendo os ou-
tros..
Definida nesse sentido a estratégia da exploracao, ela
passara a ser a expressao explicita de uma série de procedi-
mentos e estratégias operacionais, em obra no desenvolvimento
io pensamento cientifico moderno. A substituigao dos concei-
tos altamente diferenciados de tempo e espaco, dentro do cos-
lo medieval, que pela sua importancia marcaram aquela épo-
ca, pela idéia newtoniana de tempo e espaco que consideravam
9 cosmo completamente isotropo e homogéneo, foi talvez o pon-
to mais marcante no qual estas estratégias se concretizaram.
Baseado na invariancia das leis da mecanica em relagao as va-
tiagdes de tempo e espago, deu lugar a conviccao de que as
operacoes cognitivas da extrapolacdo sao onipotentes. Como
condicao decisiva para o universo discursivo das ciéncias foi
ativado um principio de continuidade da realidade, conseqien-
temente, 0 reconhecimento de um nticleo finito de leis naturais
Nos permitiria 0 acesso aquele plano de tempo e espaco, inde-
pendente da distancia até 0 observador. Este principio de conti-
nuidade da realidade envolve um tipo de principio de continui-
dade de tempo e histéria do conhecimento, devido ao qual os fu-
turos desenvolvimentos parecem poder ser esbocados e previsi-
veis. A famosa lei dos trés estagios de Auguste Comte é uma es-
pecificacdo desse principio ou, generalizando ainda mais, de
tudo aquilo que anteriormente denominamos de estratégia e ex-
loracao. Segundo essa lei, que para Comte era uma lei efetiva
da evolucao da histéria, uma vez superado 0 estagio teolégico e
metafisico e ingressado no cientifico, um campo do conheci-
nto torna-se definitivamente parte integrante desse Ultimo
universo discursivo. Os demais planos discursivos tornam-se
ineficazes. E mais: do universo discursivo da ciéncia pressu-
34 Paul Watzlawick/Peter Krieg (Orgs.)
pée-se que pode ser definido como exaustivo e tendencial em
definitivo. Supostamente ele seria meramente isomorfo ao uni-
verso. Nesses fundamentos é criada uma topologia do sistema
das ciéncias que, por sua vez, também é linear e direcionada
somente a frente. Os campos do conhecimento cientifico sao
classificados como exaustivos e a-histéricos. Sua ordem consti- —
tutiva é considerada isomorfa a uma ordem ontolégica de cres- _
cente complexidade. Sobretudo supée-se o status contingente
do contexto cientifico, tal como se apresenta por determinado
momento, como norma diretriz de futuros desenvolvimentos.
A construgao do universo discursivo da ciéncia em tor-
no desses principios de continuidade encontra expressividade
nas famosas imagens de deménios de P. S. Laplace. Nessa me-
tafora esses principios desempenham a fungao de nucleo ne-
cessario e suficiente ao desenvolvimento de qualquer conheci-
mento para a reconstru¢ao exata e exaustiva de toda a historia
do universo. De fato considera-se essa reconstrucao como irrea-
lizavel e, no entanto, ela continua sendo a idéia reguladora de
influéncia fundamental, determinante na direcao do desenvolvi-
mento cientifico através da idéia de uma aproximacaéo (assinté-
tica) aos seus limites. Admite-se a possibilidade de converter 0
universo em um universo de discursos finitos e o rumo do co-
nhecimento parece dirigido a um objetivo (que também seria
um ponto final): a grande possibilidade de aproximacdo ao cri-
tério absoluto simbolizado pela figura do deménio.
2. Essas conjecturas, opostas a teorias filos6ficas espe-
cificas (muitas vezes contraditérias), nas quais assumem forma,
expressao da onipresenca do problema metodolégico em toda a
tradi¢ao cientifica e filoséfica. A formulacdo desse problema se
enraiza na convicgao de que a busca de um critério fundamental
de observagao faz sentido para o conhecimento e tudo precede;
€ precisamente com a sua ajuda que as suas formulacdes con-
cretas deverao ser avaliadas e 0 seu desenvolvimento dirigido.
Com isto O METODO representaria algo como um instrumento
de purificacdo para a atividade espiritual, que permitiria uma
inciséo entre um “anterior” e um “posterior” na evolucao do co-
nhecimento. Esta teoria esta estreitamente relacionada a viabi-
lidade de se encontrar 0 ponto arquimediano, a partir do qual,
justamente por ser o principio absoluto, se pode erigir a cons-
trugao coerente e compacta do conhecimento. O ideal gnosiolé-
gico a ser observado sera o de uma transparéncia imediata e
olhar do observador 35
nosiologica, através da qual se pode atingir o objetivo da plena
idequatio rei et intellectus. No inicio da tradi¢ao moderna o pro-
lema da metodologia se apresentou em toda sua extensdo e
icalidade na obra de René Descartes. A filosofia cartesiana
plica de maneira paradigmatica toda uma série de conjectu-
que atravessam toda a historia do pensamento moderno
ocidental, abrangendo: a separacao entre corpo e mente e a ne-
cessidade da busca de um elo de ligacgao entre ambos, concebi-
dos como realidades separadas; o ideal de uma purificagao
través do esforco espiritual e o da transparéncia gnosiologica;
a imputagdo de um ponto arquimediano que garanta a linha de
demarcacao definitiva e que assegure a construcdo das cién-
cias; uma concep¢ao a-historica da razdo e uma oposicaéo mais
ou menos explicita de natureza e hist6éria... O que fundamenta
afirmagées filosdficas e determina a sua conformagao é a
}otese sobre a natureza do conhecimento humano. Sobretudo
efende-se a finidade do conhecimento humano e essa finidade
é definida em relacdo a infinidade da onisciéncia da ciéncia di-
ina. Esta Ultima passa a ser o ideal normativo para o progres-
30 da ciéncia humana. Assim, encontramos na raiz da ciéncia
almente essa idéia passara a ser um dos esquemas mais
indamente consolidados, nao somente na filosofia mas
nbém no intelecto humano “sadio”. Por outro lado, o conhe-
nento humano ja nao é imperfeito por ser limitado. Ao con-
io. O intelecto humano tem parte na perfeig¢ado do conheci-
ito divino; portanto, é mal uso do mesmo quando o empre-
0s para introduzir imperfeicdes, como ocorre cada vez que
mos ao dominio das nossas tendéncias e paixdes limitadas.
nasce um dos maiores mitos do conhecimento moderno:
paracao, na natureza humana, daquilo que é primordial e
\dario, e as modalidades da razaéo e sua constituicao. O
individualmente é tinico e em sentido mais amplo é histori-
nente condicionado, é considerado insignificante. Sim, deve-
ser até mesmo neutralizado para permitir um funcionamento
ibalho correto da nossa razao. Aqui esta a origem da obses-
e repetida busca do METODO na historia da ciéncia mo-
rma. Portanto, procura-se uma série de critérios para a distin-
entre natureza e historia, entre racionalidade e irracionali-
de, entre sapiéncia e deméncia, entre normal e patologico, en-
e problemas reais e pseudoproblemas, entre ciéncia e metafisi-
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Sambo Logo Penso Marcelo Jose Derzi MoraDocument9 pagesSambo Logo Penso Marcelo Jose Derzi MoraAyana SisiNo ratings yet
- Livro Tecendos Redes e Transpondo DesafiDocument296 pagesLivro Tecendos Redes e Transpondo DesafiAyana SisiNo ratings yet
- 1616500885plano de Segurana Um Guia para Seu Cliente Usar em Momentos CriticoDocument3 pages1616500885plano de Segurana Um Guia para Seu Cliente Usar em Momentos CriticoAyana SisiNo ratings yet
- Freestyle pp3Document6 pagesFreestyle pp3Ayana SisiNo ratings yet
- Balanc3a7ando Sob A Luz Do Sol Stress e Mulher NegraDocument5 pagesBalanc3a7ando Sob A Luz Do Sol Stress e Mulher NegraAyana SisiNo ratings yet
- Estudos Sobre Terapia de FamíliaDocument3 pagesEstudos Sobre Terapia de FamíliaAyana SisiNo ratings yet