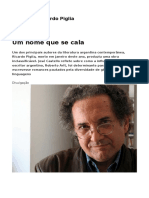Professional Documents
Culture Documents
COMPAGNON, Antoine. O Autor
COMPAGNON, Antoine. O Autor
Uploaded by
Matheus0 ratings0% found this document useful (0 votes)
5 views10 pagesOriginal Title
COMPAGNON, Antoine. O autor_
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
5 views10 pagesCOMPAGNON, Antoine. O Autor
COMPAGNON, Antoine. O Autor
Uploaded by
MatheusCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 10
CXLIAP
LEZPELOOELZ
snivaga
STHOTdd - one0y
6
‘Compagnon, Antoine
© demnia ds tora erature senso
comumy Antoine Compagnon; taducao de
{leonice Paes Belo Hor
2305p.
‘Tradugio de: Le démon de la théorie
linéatre et sens comsmn
TEVISNO DE TEXTO E NORMALIZAGAD
hear keanoeeC ME N T O'S
de Coltimbia, em Nova
\irio intitulado “Some Puzzles for
Em torno de
mos alguns textos fundadores da teoria lite-
‘dos como definitivos € cuja avaliacao ja nto nos
js. Posteriormente, na Sorbonne, dediquei um
eratura. Desta vez, diante de um piiblico
i-me necessirio fazer um discurso magistral, sem
bordagem aporética, Este livro € fruto desse
gradleco aos estudantes que 0 tornaram possivel.
ago de La Troisiéme République des Lettres
ica clas Letras) (1983), criticaram-me varias
o de haver interrompido a pesquisa no momento em
interessante: esperavam pelo fim da histr
ou uma Quinta Repiiblica das Letras. Como des-
jento em que a histria literdria foi substituida pela
ar os epis6dios seguintes, sem que nossa
ria intelectual neles se integre? Para romper 0
€ por fim as controvérsias, decidi escrever um
10, Les Ging Paradoxes de la Modernité (Os Cinco
Modernidade) (1989), do qual este € também a
o. Sou grato a Jean-Luc Giriboni, que me estimulou
assim como a Marc Escola, a André Guyaux, a
mbardo e a Sylvie Thorel-Cailleteau, que o releram.
pogos do Capitulo II foram publicados com os titulos
logie” {Alegoria e Filologial, em Anna
e Carla Locatelli, Ed., Retorica e Interpretazione, Roma,
1994, € “Quelques Remarques Sur la Méthode des
's Paralléles® [Algumas Observacdes sobre 0 Método
s Passagens Paralelas], Studi di Letteratura Francese, 0.22,
*
APETULO
3
35
38
Comper dt enn: «Toma da expresdo 39
Lteredade 08 econo 2
cons € ert “
cartruio wo AUTOR ”
1 teve dere do stor ®
Xx Voluntas © actio —
Algor flog 36
loops © herent 9°
Jeng « consdtocia 65
© eo da psmgens parks 6s
‘Sait fom the bo’: moth n
Inteogdo coer %5
(Os dos agumertos cone 3 itengdo 9
Reino a neneo a
Sendo nto 6 sgiagio 85
Inengo no € premedasto 30
2 presunio de ienconaldade 93
cavimiwo m0 MUNDO 7
Conte 4 mate 2
Anite 102
. 6 realm, reflexo 0 contengto 106
1, reference intend 10
‘A resiséncia do leitor
Recepcio e influgecia
ae
0 gr cone moach de ee
ere
L Searvemer
oma: | cans
aoe
ea cee
eeeoed
Sa
Oa se pana
es
Boe cnet
men or tees
crme a | ines
ee ee
ess
aos pa rs ad
cole ee
ee
* flog Ste
acre
ian es ae
onan | ome
So ml poems so ing
ease
aes
he cose
De wee rca em es
Valor € posteride
Poe um relativism modersdo
46
“7
153
156
157
159.
163
165
166
173
176
180
0 AUTOR
is controvertido dos estudes literdrios € o lugar
é \do, tio veemente, que
oso de ser abordado (seri também 0 capitulo
| Sob o nome de intengao em geral, é 0 papel do
»s interessa, a relagao entre o texto € seu autor,
ile do autor pelo sentido e pela significacao,
Ho texto. Po S correntes, a antiga €
op6-las e elimind-las, ou conservar ambas,
nte A procura de uma conclusdo aporética, A antiga
rrente identificava o sentido da obra a intengao do
habitualmente no tempo da filologia, do pos
icismo. A idéia corrente moderna (¢ ademais
ox New Critics americanos, 0 estruturalismo francés
na. Os New Critics falavam de intentional fallacy,
10 intencional”, de “erro intencional”: 0 recurso &
(0 de intengao Ihes parecia ndo apenas inttil, mas preju-
4108 estudos literirios. © conflito se aplica ainda aos
ios da explicacao literaria como procura da intencao
lor (deve-se procurar no texto o que o autor quis dizer),
Jeptos da interpretacdo literdria como descricao das
ces da obra (deve-se procurar no texto o que ele
independentemente das intengdes de seu autor). Para
1 dessa alternativa conflituosa € reconciliar os irmaos
10S, uma terceira via, hoje muitas vezes privilegiada,
1.0 leitor como critério da significagao literaria: € uma
‘orrente contemporanea a que voltarei no Capitulo IV, mas
arei tanto quanto possivel d de lado. no momento.
Uma introducao & teoria da literatura pode limitarse a
explorar um pequeno nimero de nodes em torno das quais a
humanismo e o indi
eliminar dos estudos nbém porque si
mitica arrastava consigo todos os outros anticonce
teoria literdria. Assim, a importincia atribuida as qu:
especiais do texto literario (a literariedade) é inversamente
proporcional & aco atribuida a intengao do autor. Os proce-
dimentos que insistem nessas qualidades especiais conferem
‘um papel contingente ao autor, como os formalistas russos
08 New Critics americanos, que eliminaram 0 autor para asse-
gurar a independéncia dos estudos literirios em relacao A
historia e a psicologia. Inversamente, para as abordagens que
fazem do autor um ponto de referéncia central, mesmo que
variem o grau de consciéncia intencional (de premeditagao)
‘que governa o texto, ¢ a maneira de explicitar essa consciéncia
(alienada) — individual para os freudianos, coletiva para os
marxistas —, 0 texto nao € mais que um veiculo para chegar-se
40 autor. Falar da intengio do autor ¢ da controvérsia da
qual nunca deixou de ser 0 objeto € antecipar em muito as
outras nogdes que serio examinadas em seguic:
Nao vejo melhor iniciacao a esse delicado debate do que
apresentar alguns textos guias. Citarei trés. O prdlogo bem
conhecido de Gargantua, no qual Rabelais parece primeiro
hos encorajar a procurar o sentido oculto (o “mais alto sen-
ido”, altior sensus) de seu livro, segundo a antiga doutrina
da alegoria, depois zombar dos que acreditam nese método
medieval que permitiu decifrar sentidos cristios em Homero,
Virgilio e Ovidio — a menos que Rabelais remeta o leitor &
sua prOpria responsabilidade por suas interpretagdes, even-
tualmente subversivas, do livro que tem em maos. Nem sempre
houve acordo sobre a intengao desse texto capital sobre a
tengo, prova de que a questio é sem saida. Em seguida,
© Contre Sainte-Beuve (Contra Sainte-Beuvel, de Proust, porque
esse titulo deu seu nome moderno ao problema da intengiio
na Franca: nele Proust defende a tese, contra Sainte-Beuve,
que a biografia, 0 “retrato literirio”, ndo explica a obra, que
€ 0 produto de um outro eu que nao o eu social, de um eu
profundo irredutivel a uma intengio consciente. Veremos, no
Capitulo IV, sobre o leitor, que as teses dle Proust abalariam
4a
textos diferentes, cujos sentidos podem mesmo
contextos € as intengdes nao silo as mesmas,
ot nos estudos literérios tradicionais tinha uma ampla
aprovacio. Mas ao afirmar que o autor € indiferente no que
se refere a significagio do texto, a teoria nio teria levado
demais a légica, ¢ sacrificado a razio pelo prazer de
bela antitese? E, sobretudo, nao teria ela se enganado
€ sempre fazer
conjeturas sobre uma intengZio humana em ato?
A ‘TESE DA MORTE DO AUTOR
Partamos de duas teses em presenca, A tese intencionalista
€ conhecida, A intengio do autor € 0 critério pedagégico ou
académico tradicional para estabelecer-se o sentido literirio.
Seu resgate €, ou foi por muito tempo, o fim principal, ou
mesmo exclusivo, da explicagao de texto. Segundo 0 precon-
ceito cortente, 0 sentido de um texto € 0 que o autor desse
texto quis dizer. Um preconceito nao € necessariamente despro-
vido de verdade, mas a vantagem principal da identificagao
lo sentido a intengio 6 a de resolver 0 problema da interpre-
taco literdria: se sabemos 0 que o autor quis dizer, ou se
podemos sabé-lo fazendo um esforgo — € se nao o sabemos.
€ porque nao fizemos esforgo suficiente —, nao & preciso
interpretar 0 texto. A explicagao pela intengao torna, pois, a
critica literiria inttil Cera o sonho da historia literdria). Além
disso, a prépria teoria torna-se supérflua: se 0 sentido € inten-
cional, objetivo, hist6rico, nao ha mais necessidade nem da
critica, nem tampouco da critica da critica para separar os
criticos. Basta trabalhar mais um pouco ¢ ter-se-4 a solucio,
A intengio, € mais ainda o proprio autor, ponto de partida
habitual da explicacio literdria desde 0 século XIX, consti
tuiram o lugar por exceléncia do conflito entre os antigos (a
9
(Orla litera
essenta. Foucault pronut
1969, intitulada *Qu’Est-ce qu'un A\
€ Barthes havia publicado, em 1968,
bistico, “La Mort de L’Auteus” {A Morte do Autor
aos olhos de seus partidrios, assim como de seus adver
slogan anti-humanista da ciéncia do texto. Tod
literdrias tradicionais podem, alias, ser remetidas a nogao de
intengio do autor, ou dela se deduzirem. Assim também, todos
0 anticonceitos da teoria podem partir da morte do autor.
Afirmava Barthes:
© autor & um personagem moderno, produto, sem divid
nossa sociedade, na medida em que, ao sair da Idade Mé&
‘com o empirismo ingles, o racionalismo francés, e a f& pesso:
se diz mais nobremente, da “pessoa humana’
Esse eta 0 ponto de partida da nova critica: 0 autor nao era
senao o burgués, a encamagio da quintesséncia da
leologia
capitalista, Em torno dele se organizam, segundo Barthes,
05 manuais de hist6ria literiria e todo ensino da literatura:
“A explicagdo da obra é sempre procurada do lado de quem
2 produziu’,* como se, de uma maneira ou de outra, a obra
fosse uma confissdo, nto podendo representar outra coisa
que nao a confidéncia.
tura por Mallarmé, Valéry, Proust, pelo surrealismo, e, enfi
pela lingiistica, para a qual “o autor nunca é mais que aquele
que escteve, assim como ew nao € outro senao 0 que diz eu’!
assim como Mallarmé jf pedia “o desaparecimento elocut6rio
do poeta, que cede a iniciativa as palavras’.* Nessa compa-
rac2o entre 0 autor e © pronome da primeira pessoa reconhe-
ce-se a reflexio de Emile Benveniste sobre “La Nature des
Pronoms” {A Natureza dos Pronomes] (1956), que teve uma
grande influéncia sobre a nova critica. © autor cede, pois, o
lugar principal 4 escritura, ao texto, ou ainda, ao “escriptor",
que nao é jamais sendo um ‘sujeito” no sentido gramatical ou
linguistico, um ser de papel, nao uma “pessoa” no sentido
50
a’, *pintar”
2 sua enunciagao, € que ela,
10 tém origem. Sem origem, “o
": a nogao de intertextualidade
la morte do autor. Quanto a explicacio,
© autor, pois que nao ha sentido tnico,
io, no fundo do texto. Enfim, diltimo elo
ma que se deduz inteiramente da morte do autor:
of, € nao o autor, € o lugar onde a unidade do texto se
no seu destino, nao na sua origem; mas esse leitor
mais pessoal que o autor recentemente demolido, e ele
também a uma fungio: ele € “esse alguém que
Jos, num tnico campo, todos os tracos de que
6 constituida a escrita’?
Como se vé, tudo se mantém: 0 conjunto da teoria lit
le ligar-se a premissa da morte do autor, como a qualquer
jutro de seus itens; mas a morte do autor € o primeiro, porque
le mesmo se opde «to primeiro principio da histéria lite-
Quanto a Barthes, ele the confere ao mesmo tempo
a tonalidade dogmatica: “Sabemos agora que um texto...", €
"Agora no somos mais vitimas de...". Como previsto,
teoria coincide com uma critica da ideologia: a escritura ou
© texto “libera uma atividade que poderfamos chamar de
contrateol6gica, propriamente revolucionatia, pois recusar
deter 0 sentido é, finalmente, recusar Deus € suas hipéstases,
a razao, a ciéncia, a lei’.* Estamos em 1968: a queda do autor,
que assinala a passagem do estruturalismo sistematico 20
p6s-estruturalismo desconstrutor, acompanha a rebelio anti-
iia da primavera, Com a finalidade de, ¢ antes de exe-
cutar 0 autor, foi necessirio, no entanto, identifi
viduo burgués, & pessoa psicol6gica, e assim reduzir a questo
do autor a da explicacio do texto pela vida e pela biografia,
restrigio que a hist6ria literdria sugeria, sem divida, mas que
nao recobre certamente todo problema da intengio, € nie
© resolve em absoluto.
Em “O que E um Autor?”, o argumento de Foucault parece
depender, também ele, da confrontacao conjuntural entre a
historia literdria € 0 positivismo, donde the vieram criticas
51
maneira como tratava 8 Homes proprios & Os noMes:
Les Mots et les Choses \As
vagas que a obra de fulano ou b
Assim, apoiando-se na literatura moder
ouco a pouco o desaparecimento, o enfraquecimento do autor,
de Mallarmé — “admitido que 0 volume nao traz nenhum
signatario” — a Beckett ¢ a Maurice Blanchot, ele define
“fungio autor” como uma construgio histérica e ideol6gica,
como a projeco, em termos mais ou menos psicologizante:
do tratamento que se da ao texto. E certo que a morte do
, como conseqiiéncia, a polissemia do texto, a pro-
mogio do leitor, € uma liberdade de comentirio até entao
descomheci de uma verdadeira reflexao sobre
a natureza das relagdes de intencao e de interpretagao, nio é
| do leitor como substituto do autor de que se es
Para que a p6s-teoria nao seja um retorno a pré-teoria, &
preciso também sair da especularidade da nova eri
historia literaria que marcaram essa controvérsia, e permi-
tiram reduzir o autor a um principio de causalidade e a um
testa-de-ferro, antes de climini-lo. Liberado dese confronto
magico € um pouco ilusério, parece mais dificil guardar 0
autor numa loja de access6rios. Do outro lado da intenca0
1 do autor ha, na verdade, a intencao. Se € possivel que o
| autor seja um personagem moderno, no sentido socioldgico,
© problema da intengao do autor nado data do ri mo,
do empirismo € do capitalismo. Ele é muito antigo, sempre
esteve presente, € nao € facilmente solucioniivel. No fopos
da morte do autor, confunde-se o autor biogrifico ou so
l6gico, significando um lugar no cinone hist6rico, com 0
autor, no sentido hermenéutico de sua intengao, ou intencio-
nalidade, como critério da interpretag2o: a “funcao do autor”
de Foucault simboliza com perfeigao essa redugao.
Depois de termos lembrado como a retérica tratava a inten-
lo, veremos que essa questio foi profundamente renovada
pela fenomenologia e pela hermenéutica. Se hi uma tal conso-
nancia na critica dos anos sessenta sobre o tema da morte do
autor, ela nao seria 0 resultado da transposigao do problema
hermenéutico da intencio € do sentido, nos termos muito
simplificados e mais facilmente negociaveis, da historia literiria?
52
es
VOLUNTAS ® ACTIO
— sobre 0 autor
— € muito ar
smo do pensamento € da linguagem,
losofia ocidental. Na ver-
jsta di um peso ao intencionalismo, mas a
ntemporinea de dualismo nem por isso resolve
intengo. O mito da invengio da eseritura no
latdo afirma que a ese
distante da palavra como a palavra (logos) € distante
mento (dianoia). Na Poética de Aristételes, a dua
contetido e da forma esta no prineipio da separacio
a historia (muthos) e sua expressio (lexis). Enfim, toda
Ao ret6rica distingue a inventio (busca das idéias), €
clocutio Cemprego das palavras), ¢ as imagens que acentuam,
posigo so numerosas, como as do corpo e da roupa.
isses paralelismos sto mais embaragosos que esclarecedores,
is que fazem deslizar a questao da intengao para o estilo.
A ret6rica clissica, em razao do quadro judiciério de sua
pritica original, nao podia deixar de fazer uma distingao prag-
itica entre intenedo e acdo, como sugere Kathy Eden na
Hermeneutics and the Rhetorical Tradition {A Hermenéutica
© a Tradigao Ret6rica] (1997), obra a qual muito devem as
istingBes que se seguem. Se tendemos a esquecé-la, é porque
‘onfundimos habitualmente os dois principios hermenéuticos
istintos — na teoria, se nao na pritica — sobre os quais se
fundamentava a interpretatio scripti, principios que ela ex-
twaiu da tradicao ret6rica: um principio juridico e um principio
stilistico Segundo Cicero © Quintiliano, os ret6ricos que
deviam explicar textos escritos recorriam habitualmente &
diferenca juridica entre intentioe actio, ou voluntas e scriptum
ho que conceme a essa acao particular que é a escritura
(Cicero, Do Orador, I, wu, 244; Quintiliano, Instituigdes Ora-
{6rias, VIL, x, 2). Mas a fim de resolver essa diferenca de origem
juridica, esses mesmos retéricos adotavam habitualmente
um método estilistico, € procuravam nos textos ambigiii-
dades que thes permitissem passar do scriptum a voluntas. as
3
terpretadas Como
seriptum, O autor eng
to estilo e1 8 vere ¢
disting2o juridica — voluntas e scriptum —
‘uma distingao estilistica — sentido proprio e sentido fig
Mas sua coincidéncia na pratica nao deve nos deixar ignorar
que se trata de dois principios diferentes em teoria.
Santo Agostinho repetira essa diferenga de tipo juridico
entre © que querem dizer as palavras que um autor uti
Para exprimir uma intencao, isto €, a significaclo seméntica,
€ 0 que o autor quer dizer utilizando essas palavras, isto é, a
intencao dianoética. Na distingio entre o aspecto lingifstico
© aspecto psicol6gico da comunicacao, sua preferéncia recai,
conforme todos os tratados de ret6rica da Antigtiidade, na
intengao, privilegiando assim a voluntas de um autor, por
opesigao ao scriptum do texto. Em A Doutrina Crista (1, XII,
12) Agostinho aponta o erro interpretative que consiste em
preferir o scriptum & voluntas, sendo sua relagao aniloga
da alma (animus), ou do espirito (spiritus), e do corpo do
qual sto prisioneiros. A decisio de fazer depender herme-
neuticamente 0 sentido da intengio nao é, pois, em Santo
Agostinho, senilo um caso particular de uma ética subordi-
nando 0 corpo € a carne ao espirito ou a alma (se 0 corpo
tho deve ser respeitado € amado, nao € por ele mesmo).
Agostinho toma o partido da leitura espiritual do texto, contra
a leitura carnal ou corporal, ¢ identifica 0 corpo com a letra
do texto, a leitura carnal com a da letra. Entretanto, assim
como © corpo merece respeito, a letra do texto deve ser preser-
vada, nao por si mesma, mas como ponto de partida da inter-
Pretagio espiritua
A distingao entre a interpretagio segundo a carne e a inter-
pretagao segundo 0 espirito nao é propria de Agostinho, que
assumiu o bindmio paulino da letra e do espirito — a letra
mata, mas 0 espirito vivifica —, que é de origem e de natureza
nio estilisticas, mas juridicas, como na tradligao ret6rica. Sa0
Paulo nao faz sendo substituir 0 par ret6rico grego rheton
dianoia, equivalente do par latino scriptum e voluntas, pelo
Par gramma e pneuma, ou letra ¢ espirito, mais familiar aos
judeus aos quais se dirige? Mas a distingao entre a letra e
espitito, em Sio Paulo, ou ainda entre a interpretacao corporal
€ 4 interpretagiio espiritual, em Santo Agostinho, que tendemos
54
espirito sob a letra, e interpretagio figurativa, de tipo es
procurando 6 sentido figurado a0 lado do sentido
o. Entretanto, mesmo se empiricamente o cruzamento
nterpretagio espiritual e da interpretacio figurativa &
as vezes realizado em Agostinho, teoricamente, e contra-
és, ele no reduz. um tipo de interpretacao ao outro,
» identifica nunca a interpretaao espiritual com a inter
netaco figurativa; ndo confunde a distingao juridica entre a
letra © 0 espirito — adaptagao crista de seriptum e voluntas, ou
actio © intentio— com a distingao estilistica entre o sentido
eral (significatio propria) e o sentido figurado (significatio
translata). Somos n6s que, utilizando a expressio sentido
Jueral de maneira ambigua, 10 mesmo tempo para designar 0
sentido corporal oposto ao sentido espiritual, e 0 sentido proprio
;posto ao sentido figurado, confundimos uma distingao juri-
Chermenéutica) e uma distingao estilistica (semantic).
Agostinho, como Cicero, mantém pois uma firme separagio
entre a distingao legal do espitito € da letra (ou came), € a
Alistingo estilistica do sentido figurado € do sentido literal
(ou préprio), mesmo que sua prépria pritica hermenéutica
isture com frequiéncia os dois principios de interpretagio,
A tradigao ret6rica situa as duas principais dificuldades da
interpretagio dos textos, por um lado, na distancia entre o
texto € a intengo do autor, por outro, na ambigtidade ou
‘obscuridade da expresso, seja ela intencional ou nao. Pode-
riamos ainda dizer que o problema da intencao psicolégica
(letra versus espirito) refere-se mais particularmente & primeira
parte da ret6rica, a inventio, enquanto que o problema da
obscuridade semantica (sentido literal versus sentido figurado)
refere-se mais particularmente a terceira parte da retorica, a
elocutio.
35
‘Tendo perdido de vi
tenclemos, na interpretagao
© problema da intenc20 ao do estilo. O'
€ 0 que chamamos tradicionalmente de alegorie? A interpre-
tagio alegorica procura compreender a intengao oculta de um.
texto pelo deciframento de suas figuras. Os tratados de ret6-
rica, de Cicero a Quintiliano, nao sabiam nunca onde col
a alegoria. Ao mesmo tempo figura de pensamento € tropo,
mas tropo em muitas palavras (metifora prolongada segundo
a definicao habitual), ela é equivoca, como se flutuasse entre
a primeira parte da ret6rica, a inventio, remetendo a uma
questo de intengao, e a terceira parte, a elocutio, remetendo
a um problema de estilo. A alegoria, por intermédio da qual
toda a Idade Média pensou a questo da intengio, repousa,
na realidade, na superposigio de dois pares (e de dois prin-
cipios de interpretacio) teoricamente distintos, um juri
outro estilistico.
A alegoria, no sentido hermenéutico tradicional, € um
método de interpretacdo dos textos, a maneira de continuar a
explicar um texto, uma vez que esti separado de seu contexto
original e que a intencio do seu autor nao é mais reconhecivel,
se € que ela jf 0 foi." Entre os gregos, a alegoria tinha por
nome byponoia, considerada como 0 sentido oculto ou subter-
raneo, percebido em Homero, a partir do século VI, para
uma significacao aceitivel aquilo que se tornara estranho, €
para desculpar © comportamento dos deuses, que pareci
doravante escandaloso. A alegoria inventa um outro sentido,
cosmol6gico, psicomantico, aceitivel sob a letra do texto: el
sobrepde uma distingao estilistica a uma distingao juridl
Trata-se de um modelo exegético que serve para atualizar
um texto do qual estamos distanciados pelo tempo ou pelos
costumes (de qualquer forma, pela cultura). N6s nos reapro-
priamos dele, emprestando-Ihe um outro sentido, um sentido
oculto, espiritual, figurativo, um sentido que nos convém
atualmente. A norma da interpreta aleg6rica, que permite
separar boas e mas interpretagdes, nao € a intengao original,
€ 0 decorum, a conveniéncia atu:
A alegoria & uma interpretagio anacrdnica do passado,
uma leitura do antigo, segundo 0 modelo do novo, um ato
56
Média, A alegoria € um instrumento todo poderoso para inferir
n sentido nove num texto antigo.
nece, entretanto, a inevitivel questao da intencao,
iro juridico € do registto esti
‘© que Homero queria dizer? Homero teria em mente
idade dos sentidos que as geragdes posteriores deci-
n na Iiadd Para o Antigo Testamento, © cristianismo,
10 do livro revelado, resolveu a dificuldade pelo dogma
inspiragio divina dos textos sagrados. Se Deus guiou a
1o do profeta, entao € legitimo ler na Biblia outra coisa que
que seu autor instrumental e humano quis ou pensou
ver. Mas 0 que dizer dos autores da Antigtidade, aqueles
Dante colocou no limbo, no inicio do “Inferno”, porque,
mo que nao tenham vivido antes do nascimento do Cristo,
‘obras nao eram incompativeis com o Novo Testamento?
esse dilema que Rabelais aborda no prologo de Gandntua,
encorajando, primeiro, a interpretar seu livro “no mais alto
sentido", conforme a imagem do osso ¢ da medula, do habito
que nao faz o monge, ou da feitra de Sécrates, em seguida
recomendando, depois de abruptamente mudar de direcio,
anter-se perto da letra: “Pensais vés, em vossa fé, que Homero,
escrevendo a Ilfada e a Odisséia tenha pensado nas alegorias
que Ihe atribuiram Plutarco, Hericlides do Ponto, Eustiquio,
Phornute?” Nao, diz ele, Homero no pensara nisso, nao mais
que Ovidio em todas as prefiguragdes do cristianismo que
encontramos nas Metamorfoses. Entretanto, Rabelais ndo
critica aqueles que Iéem um sentido cristio na Ilfada ou nas
‘Metamorfoses, mas somente aqueles que pretendem que Homero
ou Ovidio haviam posto esse sentido cristio nas suas obras.
Em outras palavras, aqueles que lerem em Gargantua um
sentido escandaloso, como aqueles que encontrarem um sen~
tido cristio em Homero ou Ovidio, serao responsaveis por
isso, mas no o préprio Rabelais. Assim, para se liberar da
7
ali deixar. Alifs, relendo-se, ele acaba descobrindo 5
que ele mesmo desconhecia.
Mas se Rabelais e Montaigne, como os antigos ret6ricos,
entre eles Cicero e Agostinho, desejavam, ainda que cum grano
salis, que a intengio fosse distinguida da alegoria, esta ainda
viveria belos dias, até 0 momento em que Spinoza, o pai da
filologia, pedisse, no Tratado Teoldgico-Polttico (1670) que
Biblia fosse lida como um documento hist6rico, isto é, que
© sentido do texto fosse determinado exclusivamente pel
relacio com o contexto de sua redacio. A compreensio em
termos de intencao, como jf era o caso quando Agostinho
alertava contra a interpretacao sistemitica pela figura, € funda-
mentalmente contextual, ou hist6rica. A questao da intencao
ea do contexto se confundem, desde entao, em boa parte. A
vit6ria sobre 03 modos de interpretacao cristd € medieval no
século XVII, com as Luzes, representa assim uma volta ao
pragmatismo jurfdico da ret6rica antiga. O alegorismo ana-
Eronico parece inteiramente eliminado. Do ponto de vista
racional, uma vez que Homero e Ovidio nao eram cristaos,
seus textos no podiam ser legitimamente consideracios como
alegorias cristis."" A partir de Spinoza, a filologia aplicada
08 textos sagrados, depois a todos os textos, visa essenc
mente prevenir 0 anacronismo exegético, fazer prevalecer a
azo contra a autoridacle e a tradigo. Segundo a boa filolos
a alegoria crista dos Antigos € ilegitima, o que abre caminho
A interpretacdo hist6rica.
J que poderiamos pensar que esse debate fora resolvido
ha muito, ou que € abstrato, nao seria talvez instil lembrar
que ele ainda esta vivo, e continua a dividir os juristas, em
particular 0s constitucionalistas. Na Franca, o regime nao
cessou de mudar ha dois séculos, e a Constituicio juntamente
com ele, € a Inglaterta nao tem Constituicao escrita; mas nos
Estados Unidos, todas as questdes politicas se colocam, num.
‘momento ou noutro, sob a forma de questdes legais, isto 6, de
questdes sobre a interpretacao € a aplicaglo da Constituigao.
58
Assim se opdem, quanto a todos os probl
dos pais fundadores,
ar © sentido obje-
lo tinha no momento em
Como sempre, as duas posicoes —
lista — sao insustentavei:
ceitar, numa democracia moderna, que em nome de
fidelidade a intencio original, supondo-se que ela seja
-avel, os direitos dos vivos sejam garantidos pela auto-
le dos mortos? Que 0 morto confisque o vivo, como diz
velho adagio juridico? Seria necessirio, por exemplo, perpe-
r 08 preconceitos raciais do final do século XVIII, e ratificar
\s intengdes escravagistas e discriminat6rias dos redatores
Constitui¢do americana? Aos olhos de muitos
je, € mesmo de historiadotes, a idéia de que um texto
um Gnico sentido objetivo € quimérica. Além disso,
artidarios da intencao original raramente estao de acordo
entre si, € a compreensio do que a Constituicao queria dizer,
‘a origem, permanece tao indeterminada que, para cada
ltemnativa concreta, 0s modemnistas podem invocar sua caugao
nto quanto os conservadores. Finalmente, a interpretacao
dle uma Constitui¢io, ou mesmo de todo texto, levanta ndo
somente uma questio histérica, mas também uma questao
o sugeria
FILOLOGIA E HERMENEUTICA.
A hermenéutica, isto &, a arte de interpretar os textos, antiga
disciplina auxiliar da teologia, aplicada até entao aos textos
sagrados, tornou-se, ao longo do século XIX, seguindo a tritha
dos tedlogos protestantes alemaes do século XVIII, € gracas a0
desenvolvimento da consciéncia hist6rica européia, a ciéncia
da interpretagio de todos os textos e o préprio fundamento
da filologia e dos estudos literirios. Segundo Friedrich
9
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Guillermo Calderón - NevaDocument80 pagesGuillermo Calderón - NevaMatheus100% (2)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Jon Fosse - o NomeDocument68 pagesJon Fosse - o NomeMatheus100% (1)
- BORGES, Jorge Luís. Pierre Menard, Autor Do QuixoteDocument7 pagesBORGES, Jorge Luís. Pierre Menard, Autor Do QuixoteMatheusNo ratings yet
- FRANÇA, Júlio. RepresentaçãoDocument16 pagesFRANÇA, Júlio. RepresentaçãoMatheusNo ratings yet
- Memoria - Ricardo PigliaDocument11 pagesMemoria - Ricardo PigliaMatheusNo ratings yet
- Estetica Da Montagem - Vicent AmielDocument68 pagesEstetica Da Montagem - Vicent AmielMatheusNo ratings yet
- 20 - Volta Ao Lar, Harold PinterDocument80 pages20 - Volta Ao Lar, Harold PinterMatheusNo ratings yet