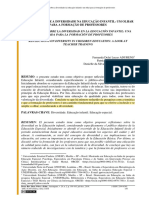Professional Documents
Culture Documents
SILVA - AulasdeLP - Quais As Práticas de Letramento
SILVA - AulasdeLP - Quais As Práticas de Letramento
Uploaded by
LOUISE LEITE MAROTINHO0 ratings0% found this document useful (0 votes)
2 views19 pagesOriginal Title
SILVA_AulasdeLP_quais as práticas de letramento
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
2 views19 pagesSILVA - AulasdeLP - Quais As Práticas de Letramento
SILVA - AulasdeLP - Quais As Práticas de Letramento
Uploaded by
LOUISE LEITE MAROTINHOCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 19
€xng
234
a
j
|
! Aulas de Lingua Portuguesa:
ii quais as praticas de letramento?
Luzia Rodrigues da Silva
1. Introdugéo
Neste capitulo, proponho-me a apresentar um recorte de uma
pesquisa — de cardter metodolégico qualitativo e etnografico — rea-
lizada em escolas publicas de Ensino Basico localizadas na cidade de
Goiania, estado de Goids. Demonstro excertos de eventos de letra-
mento! da sala de aula — gravados em Audio e transcritos — e ana-
liso o discurso das aulas das professoras 4 luz da Andlise de Discur-
so Critica (ADC) (Fairclough, 2003; Chouliaraki e Fairclough, 1999) e
da Teoria Social do Letramento (Barton e Hamilton, 1998). Examino
© que esta sendo feito, como e Por quem, o que implica analisar 0
papel que o letramento* desempenha nas instituicdes sociais e 05
propésitos a que ele esta servindo. Com tal andlise, proponho-me 4
i aracteristica de ter \cfpio e um fim.
2. Conforme Barton ¢ Hamilton (1998), 0 letramento é mis be um prinel A on
conjunto de préticas sociais observaveis em eventos medi, ‘doe en entendido
mediados por textos.
DISCURSOS, IDENTIDADES E LETRAMENTOS. 235
analisar as atividades das professoras na sala de aula, buscando per-
ceber como essas profissionais materializam, nesse espaco escolar,
suas posicdes em torno do ensino de Lingua Portuguesa e em que
concepcées de letramento estao fundamentadas.
Considero, para andlise, os eventos de letramento, pois, como
defende Street (2000, p. 21), eles “habilitam a pesquisadoras/es, e
também a praticantes, focarem sobre uma situacdo particular, onde
as coisas estéo acontecendo e vocé pode vé-las acontecendo”. Street
destaca aqui 0 caréter concreto dos eventos de letramento, que faci-
litam a compreensao de convencées e concepgdes que embasam os
propésitos pedagégicos.
Emprego as discussées de Fairclough (2003) sobre modalidade,
focalizando, sobretudo, os tipos de troca, as fungdes do discurso e os
tipos de modalidade. A anélise do modo como nos comunicamos com
as/os outras/os, do modo como fazemos os tipos de troca, 6 um re-
levante aspecto para a identificagao dos sujeitos, pois, como defende
Kleiman (2002, p. 271), as identidades sdo consideradas “uma produ-
ao social emergente da interag4o”.
Partindo dessa perspectiva e sabendo que a interacao esta atra-
vessada por varios elementos da vida social, analiso os usos da mo-
dalidade apresentados nas aulas, pois eles contribuem para iluminar
as relagGes estabelecidas e, dessa maneira, para indicar o estilo? das
professoras. Isso porque € possivel perceber 0 uso que essas profis-
sionais fazem de determinados modos oracionais, bem como as es-
colhas e as trocas que realizam nos eventos de letramento.
2. Anialise de Discurso Critica e letramento como pratica social
O termo discurso, com base nos pressupostos da ADC, é com-
preendido como parte da pratica social, dialeticamente interconecta-
3. Estilos so modos de ser — identidades (Fairclough, 2003).
236 OTTONI * LIMA
do a outros elementos (Fairclough, 2003), como o mundo material, as
relagoes sociais, a agao e interagao, as pessoas com suas crengas, seus
valores e desejos (Chouliaraki e Fairclough, 1999, p. 21). Nesse senti-
do, como uma dimensao das praticas sociais, 0 discurso 6 determi-
nado pelas estruturas sociais,’ mas, ao mesmo tempo, tem efeito sobre
a sociedade ao reproduzir ou transformar tais estruturas. Assim, 6
(2001)! Desse modo, sustenta relagdes de poder® e ideologias, mas
também as transforma. Portanto, 0 discurso deve ser entendido tam-
bém em sua dimensao constitutiva, pois como argumenta Fairclough
(2001, p. 91):
(...) 0 discurso contribui para construir todas as dimensées da estrutu-
ra social que, direta ou indiretamente, o moldam e o restringem; as
proprias normas e convengées, como também relagées, identidades e
instituigdes que Ihe sdo subjacentes. OdiSCuFSO)é uma! praticay nao)
-constituindo e construindo o mundo em significados.
Um viés social também se aplica aos conceitos de letramento
_ preconizados pela TSL. Nessa abordagem, b letramento configura-se
_como usos da leitura e da escrita em contextos situados. Ele esta as-
sociado a vida social, interagao entre as pessoas, as questdes ideo-
légicas, as disputas hegemOnicas e aos varios dominios da vida
contemporanea (Barton e Hamilton, 1998; Barton, 1994) Desse modo,
como reconhece Magalhaes (1995), o letramento esta intimamente
abstratas. Pode-se
4, Para Fairclough (2003, p. 23), as estruturas sociais sao entidades m
pensar em uma estrutura social (tal como uma estrutura econémica, uma classe social, um
sistema de parentesco ou uma lingua) em termos da definigao de um potencial, um conjunto
de possibilidades.
5, Segundo Foucault (1979, p. XIV), “o poder, rigorosamente falando, nao existe, nao €
um objeto, uma coisa, mas uma relagao social. Existem sim, praticas ou relagdes de poder. O
poder é algo que se exerce, efetua-se, que funciona como maquinaria social que nao esta situ-
ada em lugar exclusivo, mas se dissemina por toda a estrutura social”.
DISCURSOS, IDENTIDADES E LETRAMENTOS
237
imbricado as premissas da ADC, pois,
de letramento tém caréter institucional
identidades, valores e crengas mediado:
Para essa autora, as Praticas
Ou comunitério e constituem
Ss pelo meio escrito.
Dessa forma, o letramento, na abor
relacionam-se, pois visam a Praticas
e transformadoras.
de ensino
‘dagem aqui adotada, ea ADC
Sociais concretas, fortalecedoras
Da mesma forma, assumir 0 letramento,
social, significa, por parte das/os professoras/es,
sobre 0 letramento e seus significados.
na sua dimensao com o
adquirir consciéncia
Os pressupostos ancorados na TSL, portanto, esto orientados
para os processos interacionais existentes entre os sujeitos, em que
sao defendidos projetos de letramento relacionados ao contexto social
em que as pessoas estao situadas.|Desse modo, é relevante analisar a
“variedade de praticas cult is las % m
diferentes contextos” (Street, 1993, p. 7), com o intuito dé desna
lizar praticas hegeménicas e valorizar os saberes das Pessoas em suas
comunidades (Street, 1984). Nesse sentido, conforme Baynham (1995,
p- 1), investigar o letramento como uma “atividade humana concreta”
envolve nao somente 0 que as pessoas fazem com o letramento, mas_
também as suas conclusées sobre o que fazem; envolve, ainda, os
valores que sao aplicados e as ideologias que s4o configuradas.
associadas 4 leitura e a escrita e
[0 letramento aborda os modos culturais de uso da linguagem
que incluem valores, crengas, sentimentos, relagbes sociais represen-
tados por meio de ideologias e identidades, questies que, ome ae
gerem Street (1993) e Barton e Hamilton (1998), sao i eee
relagdes de poder| Essa perspectiva Sh er women
de Fairclough (2003), para quem as praticas é que ar! ics nae
tos discursivos com outros nao discursivos, por exemp' ee m ae
A compreensao sobre a conexao entre 0 ey ° eee
sociais é reafirmada por Street (1993, p. a, que de! ne culturais e de
de letramento “inextricavelmente ligadas as estrutur
238 OTTONI + LIMA
poder na sociedade”. Tal conexao é também reafirmada por Barton e
Hamilton (1998, p. 3), para quem o letramento, como toda atividade
humana, “é essencialmente social e esta localizado na interagao entre
as pessoas”. Ainda para reforcar essa perspectiva, Street (1993, p. 13)
afirma que o modo pelo qual as atividades sao situadas nas institui-
Ges implica outros proce
liticos e culturais.
is amplos, sociais, econdmicos, po-
Assim, na sala de aula, para analisar as praticas de letramento
em que as/os estudantes estado engajadas/os, é preciso identificar as
atividades pedagégicas em que os textos escritos estao envolvidos e
os dominios da vida social aos quais esses textos se relacionam. E
nesse sentido que se torna pertinente a andlise da didatizagao das
professoras em sala de aula, dos discursos construidos nesse contexto.
Para a andlise de tais discursos, recorro a discussao de Fairclou-
gh (2003) sobre modalidade. Esta categoria de andlise esta ligada a
“comprometimentos”, “atitudes”, “julgamentos”, “posturas” e, por-
tanto, esta ligada a identificagao. Além disso, a modalidade sugere o
quanto as pessoas se comprometem quando fazem afirmacées, per-
guntas, demandas ou ofertas. Assim, ela “6 importante na tessitura
das identidades, tanto pessoal (‘personalidades’) quanto social, no
sentido de que aquiloycommorqueyaypessoayseicomprometeyé\umallil
(Parte significativa do que ela 6 (Fairclough, 2003, p. 166).
De acordo com Fairclough (2003), a modalidade pode ser associa-
da a tipos de troca (de conhecimento e de atividade) e fungées de fala (ordem/
pedido — demanda, oferta, pergunta e declaragao). Declaragées e perguntas
referem-se a troca de conhecimento e demandas e ofertas referem-se a
troca de atividade. O foco no primeiro tipo de troca é na troca de infor-
magao, na elucidagio de afirmagées, nas reivindicagdes, na afirmacao
de fatos. J4 no segundo tipo, o foco é na atividade, nas pessoas fazen-
do coisas ou conseguindo que as/os outras/os as fagam. Frequentemen-
te 6 orientada para acao nao textual (Fairclough, 2003, p. 106).
Fairclough (2003) associa esses tipos de troca e essas fungdes de
fala 8 modalidade. Na troca de conhecimento, a modalidade 6 episté-
mica. Ela se refere ao comprometimento com a “verdade”, Na troca
DISCURSOS, IDENTIDADES E LETRAMENTOS 239
de atividade, a modalidade é deéntica, que é rel
: d lativa ao comprometi-
mento com a obrigatoriedade/necessidade,
A visdo de modalidade do autor vai além dos casos de modali-
zagao explicita, ou seja, com marcador explicito. Os marcadores ar-
quetipicos de modalidade so os “verbos modais” (poder, dever,
poderia, deveria), embora haja muitas outras formas pelas quais a
modalidade seja marcada.
As escolhas feitas, relativas a modalidade, dizem-nos muito sobre
como um texto é tecido, como 0/a produtor/a Posiciona-se e como
ele/ela posiciona 0/a leitor/a, sobre quais atitudes sao veiculadas e
como as identidades sao construidas.
3. Os eventos de letramento: uma possibilidade de andlise
No excerto a seguir, a professora Patricia’ propée a discussio
sobre um texto poético, Poema tirado de uma noticia de jornal, de Manuel
Bandeira.
Professora: Quem que seria o Joao Gostoso, aqui no poema? O Joao é
um nome, é um nome comum, nao é um nome comum?
Pedro: E. Ele é um trabalhador que da duro.
Julia: £ um trabalhador, porque ele é um carregador de feira
livre. Entao ele é um trabalhador... bragal, quem é carre-
gador de feira livre é trabalhador bracal.
Joana: F, normalmente é preto.
rr oo ekto a seguir
6. Este, como todos os outros nomes — de professoras e de alunas/os — que virao a segui
aa ; baatios
é um pseudénimo. Obedeso, com isso, a um dos princfpios éticos que orientam os tral
cientificos,
240
Professora:
Alexandre:
Professora:
André:
Professora:
André:
Professora:
Sar
Professora:
Sara:
Rubens:
Professora:
Sara:
Professora:
Sara:
Professora:
Pedro:
OTTONI « LIMA
Normalmente, normalmente, é mesmo. Ai “morava no
morro da Babilénia, num barracéo sem ntimero”. O que
que o “morro da Babilénia, barracéo sem ntimero” traz
pra gente?
Favela.
Que ele mora numa favela e sem ntimero mostra 0 qué?
Que ele vive perdido.
Ok e 0 que isso significa?
Que é um Joao Ninguém.
Ele nem nome tem, né? Nao tem identificacéo como pessoa,
nao é isso? E um Joao Gostoso, ou quase um Joao Ninguém,
que é trabalhador bragal, mora num morro e num barracéo
sem ntimero. Além de ser barracdo é sem numero. Entao
ele néo tem uma identificagdo normal, digna de um ser
humano. Nao da essa impressao?
Aha.
Ai depois ele fala assim, oh: “Uma noite ele chegou no bar
Vinte de Novembro”. Percebam duas coisas, viu, Leticia?
Aqui, artigo definido e artigo indefinido, qual que é artigo
indefinido?
“um”.
‘uma”.
Isso. “um”, “uma”, “uns”, “umas”.
Singular e plural, feminino e masculino.
“Um Joao”, pode ser um Joao qualquer, “o Joao”, pode ser
esse Joao, pode ser um outro Joao especifico, ta?
O Joao Gostoso.
Af aqui, olha s6, “num barracdo sem ntimero”, ele usa
“num”, artigo indefinido. Entao esse Joao ta sem identifi-
cacao por essa razo também, s6 que quando ele passa pro
bar, o bar é definido. Dé pra perceber isso?
Tanto que até o bar tem definigao do lug
ar, tem nome. As
coisas sao consideradas mais importantes do que gente.
(Aula: 1" série do Ensino Médio, professora Patricia)
DISCURSOS, IDENTIDADES E LETRAMENTOS
Esta sequéncia remete-me ao evento de letra;
professora Patricia, fazendo uso do texto de carter Ifrico, promove
asua recontextualizagao (Bernstein, 1996). Esse texto é ace de
um livro literério e levado pa sala de aula para se tornar objeto
de estudo. AfeeGntextualloacte, Portanto, conforme conceito de
Bernstein (1996),
mento em que a
quesolbe Esse movimento, segundo Magalhaes (2005,
p- 235), implica “o deslocamento, a apropriagao, a relocagao e o esta-
belecimento de relagdes com outros discursos em um contexto insti-
tucional particular”. Dessa maneira, nesse processo de mudanga, os
acontecimentos sociais, as /os Participantes, a Tepresentacao simbéli-
ca sob a forma de texto ganham novos contornos, em que se atualizam
significados sociais.
As perguntas iniciais levantadas pela professora desafiam as/os
estudantes e as/os orientam a estabelecer a relagao entre linguagem
e sociedade. Sao questées que, baseadas na construgao de conheci-
mento a respeito da identidade de “Joao Gostoso”, conduzem as/os
estudantes a construir uma visao critica da realidade social. E exata-
mente isso que acontece. O aluno Pedro, depois de muitos questio-
namentos, assim se expressa: “Tanto que até o bar tem definicdo do
lugar, tem nome. As coisas sao consideradas mais importantes do que
gente, isso é horrivel”. Desse modo se expressando, Pedro constréi
uma comparacdo em que aprecia de forma negativa (Martin, 2000;
White, 2004) o fato de as coisas serem consideradas mais importantes
que as pessoas. Com tal posigao, 685e aluno indica quélolletramento>
Nesse sentido, é possfvel constatar que a professora Patricia faz per-
guntas nao simplesmente para obter respostas e verificar conhecimer
tos, mas para provocar a reflexao das/os estudantes, fazendo resu tar
dai elaborages verbais de dimensao critica da vida social. Rel acio-
nado a isso, hd um outro feito: a producao de saberes PrOprios, Assit
© conceito de praticas de letramento dessa Professora, como defende
Street (2000, p. 21), est relacionado 4 tentativa de “al cl ee
€ os padrées de atividade em torno do letramento pai
2 OTTONI + LIMA
24;
alguma coisa mais ampla de carter social e cultural”. Isso implica
um tratamento discursivo dado ao texto.
A professora Patricia promove um letramento em que 0 texto é
visto pelo viés do discurso. Assim, ele é compreendido como um
continuo comunicativo em que entram em jogo as crengas, as ideolo-
gias, as relagées identitarias presentes nas praticas sociais. Dessé modo,
(@atadowiscursivamente) O estudo do artigo (definido e indefinido)
serve para construgao do sentido do texto, nado valendo, portanto, por
si mesmo. Assim fajprofessora nao) toma esse litem gramatical/comollll>
objeto final do letramento na sala de aula. Ela considera o seu carter
linguistico-hist6rico-cultural ao desvendar o mecanismo dos proces-
sos de significagéo, que regem a textualizagaio do discurso.
Desse modo, 0 estudo sobre 0 artigo ajuda a construir a identi-
dade de “Joao Gostoso” imbricada as coisas e, consequentemente,
contribui para a reflexo e a construgao de novos significados. Trata-se,
portanto, de um letramento que, na atividade de leitura de um texto
poético, evidencia a reflexao e 0 posicionamento sobre um problema
social relacionado as posigées identitérias no mundo social. Assim,
tem-se aqui um evento de letramento que direciona o olhar para a
6tica do humano. HA a atengao voltada para as Pessoas e para os
lugares sociais que elas ocupam no mundo. Isso conduz a questiona-
mentos e mudangas em relagao a crencas e valores e, mais profunda-
mente, a mudangas de praticas sociais.
A sequéncia a seguir indica que a professora Renata esté filiada
aos mesmos pressupostos, relacionados ao letramento,
que orientam
as praticas da professora Patricia.
Professora: A Macabeia’ era um ser tnico, uma tnica mulher nor-
destina?
Kennedy: Nao. Acho que ela representa muitas mulheres e nao sé
nordestinas, mas...
7. Personagem central do livro A hora da estrela, de Clarice Lispector
DISCURSOS, IDENTIDADES E LETRAMENTOS.
243
Joao: Se fosse s6 Macabeia, Macabeia era s6 uma, mas nas con-
digdes que ela vive tem varias.
Professora: Tem varias, por exemplo, passando pelos mesmos pro-
blemas?
Sandra: Professora, eu nao sei se isso t4 no mesmo nivel, mas, POF
_ exemplo, o narrador é um homem, e tem uma parte, da,
do, da introducéo da histéria que diz assim: que ele vai
nos dar um recado, que tem varias Macabeias.
Ana: Eu também li isso.
Sandra: Ele fala que a gente pode encontrar elas na rua.
Professora: Entdo, podemos dizer que a histéria de Macabeia pode ser
a historia de muitas outras mulheres que estao presentes
na vida contemporanea?
Sandra: Sim. Eu nao tenho diivida disso.
Joao: A gente pensa que as mulheres libertaram, mas tem mui-
tas mulheres que séo como a Macabeia, sao sempre sub-
missas.
(Aula: 2* série do Ensino Médio, professora Renata)
Aqui, a professora Renata também recontextualiza um texto li-
terdrio, Ela traz o romance A hora da estrela, de Clarice Lispector, para
a sala de aula, focalizando a personagem central “Macabeia” como
objeto de estudo. Com suas perguntas, a professora se mostra inte-
ressada em conduzir as/os estudantes a relacionarem 0 texto ao
contexto social contemporaneo, sobretudo, situando-as/os em relagao
tarias femininas. Com essa postura, Renata propicia
a construcéo de um pensamento critico por parte das/os estudantes
mas tem muitas mulhe-
(“A gente pensa que as mulheres libertaram,
sao sempre submissas”), 0 que se
cimento e abertura 4 mudanga
pratica, como aponta Kalman
as posigdes identi
res que s4o como a Macabeia,
configura como elaboragao de conhe
social. Isso significa que a nos ‘ao de
(2005, p. 204), “
cod COTTON! « LIMA
Pprocessos culturais e sociais mais amplos” (ver Barton e Ivanié, 1991;
Street, 1993).
Cabe evidenciar que, neste excerto, a professora Renata faz trés
perguntas as/aos estudantes (“A Macabeia era um ser unico, uma
unica mulher nordestina?”; “Tem varias, por exemplo, passando pe-
los mesmos problemas?”; “Entéo, podemos dizer que a histéria de
Macabeia pode ser a hist6ria de muitas outras mulheres que estdo
Ppresentes na vida contemporanea?”). Todas elas sao questées fechadas.
Contudo, as respostas das/os estudantes nao se limitam ao sim e ao
nao, elas se ampliam, estendem-se. Além disso, para todas as pergun-
tas, mais de uma/um estudante tem algo a dizer. Tal quadro remete-me
a prtica de letramento da professora, pois sugere que j4 6 comum,
nesse espaco de sala de aula, o debate que implica a relagdo texto e
contexto social. E comum também o trabalho voltado para a constru-
gao de uma visao critica da realidade e identidades sociais, 0 que
indica que a linguagem é percebida como parte irredutivel da vida
social, dialeticamente interconectada a outros elementos, como as
identidades (Fairclough, 2003).
Essa posigao contraria modelos de letramento que legitimam relagdes
de poder entre professor/a e estudante.
A sequéncia a seguir foi protagonizada por uma outra professo-
ra, Madalena.
Em -ar, no é isso? O que que vai acontecer? Retira esse
Professora:
-ar e acrescenta 0 qué? -ava. Em qualquer palavra, nés
ainda estamos naqueles verbos terminados em -ar, té cer-
to? T6 s6 lembrando vocés. E quando a gente tiver verbos
terminados em -er e em -ir, 0 que que vai acontecer?
Daniel: Vira “-ava”, oh, foi mal, “-eva”.
Professora: Vocé t4 de graca? (Em tom de irritagao)
Daniel: Nao, professora, em “-ir “é “-ia”.
DISCURSOS, IDENTIDADES E LETRAMENTOS
245
Professora:
Gragas a Deu:
is! Entao
: wando voce ti
tetminados em or. aus ido vocé tiver, no caso, verbos
. = vit, ndo 6? Se, i
conjugacao. O que que vai gunda e terceira
. acontecer? Retira o -er, retira 0
‘Ir € acrescenta o qué? E acrescenta o
tem que fazer pra ter o pretérito,
(Aula: 8° ano, professora Madalena)
-ia, nao € isso que
Pretérito imperfeito?
Esse excerto leva-me a um evento de letramento em que a pro-
fessora Madalena tem como tépico da aula a conjugacao dos verbos.
Como se pode notar por essa pequena amostragem, Madalena desen-
volve tal evento de uma maneira completamente desencaixada dos
significados sociais e culturais. O modelo de letramento da professora
est centrado nos princfpios da gramitica tradicional, que nao consi-
dera 0 estudo da lingua em conexao com textos produzidos em pré-
ticas sociais. Aqui, Madalena sustenta os turnos com questdes que, em
sua maioria, ela mesma responde. Nesse sentido, ela da a impressao
de que est4 em interlocugao com um/a outro/a, dissimulando, assim,
uma relacdo de poder (Thompson, 1995). Isso significa que, €mbora’o)
(Kalman, 2005).
Madalena nao se mostra interessada em obter informacao das/
os estudantes, mas sim em distribui-la, afirmé-la, o que pode pressu-
por que essa professora nao vé as/os alunas/os como ne de
construir o conhecimento, reforgando a concepgao vinculada a um
padro tradicional de que o saber 6 um bem do/a Penal :
Entretanto, o que quero destacar nessa sequéncia éa elise
do aluno Daniel no momento em que onna ated oe ae
estudante responde 4 indagacao de Ma ae Me eee de wraca?”.
tivamente a resposta do aluno, perguntan
. “ao
funcionar como uma 4¢
x im proposta parece funck
Contudo, tal questao assim prop i ge trata, na verdade, de uma
ja, na ;
sstatégiea Fairclough, ee choca pois nao se busca aqui a ob
de conhet 4 ivi rte do
—— a orm, mas pretende-se uma atividade por pal
lengao de inform: a
OTTONI LIMA
246
aluno, a de ficar quieto, nao falar mais. Isso pode significar que Ma-
dalena esta defendendo-se de uma possivel contestagdo por parte do
estudante, 0 que a fez sentir seu poder ameacado. Daniel, porém, nao
se cala, demonstra resisténcia e continua participando da troca de
conhecimento e, dessa vez, fornece a informagao esperada pela profes-
sora, 0 que é por ela motivo de consentimento. Madalena, porém, da
sequéncia & aula, em conformidade com o mesmo formato inicial,
sugerindo que no esté predisposta a revisao dos padrées que definem
as suas praticas de letramento.
Além dessa hipdtese de que o aluno Daniel, ao fornecer a res-
posta a professora, estava, na verdade, desafiando-a, contestando
um letramento baseado no ensino de carater mecAnico, pode-se
também pensar na alternativa de esse aluno estar apenas fazendo
uma tentativa de resposta. Contudo, evidenciando a posigaéo da
professora, ao considerar essa segunda hipétese, é possivel dizer
que Madalena nao aceita o aluno arriscar-se, fazer suas tentativas,
cometer equivocos.
De qualquer modo, porém, Madalena, com a troca “Vocé ta de
graca?”, expressa sua atitude, construindo o campo de significado do
julgamento (Martin, 2000; White, 2004) por meio do qual condena o
aluno Daniel pela sua posigao, sua conduta.
Este excerto explicita que a professora Madalena nao percebe
que o ensino de lingua pautado na anilise de frases e oracbes deslo-
cadas de textos extraidos de seus contextos sociais de uso é irreal e
afuncional, pois, como defende Neves (2006, p. 125), “a gramatica
de uma lingua em funcionamento nao se faz de regras absolutas,
com condig6es auténomas de aplicagao”. Tal excerto, portanto, apre-
senta uma professora que esta presa a sentidos tradicionais e, além
disso, posiciona-se legitimando seu poder na sala de aula, restrin-
gindo as trocas com as/os estudantes, néo admitindo contestagGes,
por exemplo.
A sequéncia que se segue, a exemplo da anterior, indica um
evento de letramento desencaixado das priticas sociais cotidianas.
pIscCURSOS, IDENTIDADES E LETRAMENTos
247
‘Ana: Professora, a senhora explicou e eu nao entendi
Professora: Isso € pra vocé vé que tem que prestar at , 6
Plicando todo dia, todo dia... Srebegie
(Pausa. Conversa entre as/os estudantes.)
Professora: As Orages podem ter predicativo do sujeito, objeto direto,
objeto indireto, Sujeito, que 6 o subjetivo, né? O comple-
mento nominal que é a completiva nominal e a apositiva,
que € 0 aposto.
(As/os estudantes falam ao mesmo tempo.)
Professora: Qual é a classificacéio dessa oracéo aqui, da primeira ora-
40? Ela é a principal, mas dentro da principal ela tem um
sujeito?
Estudantes: Nao. 1
Professora: Nao, nao tem sujeito. Tem verbo?
Bernardo: Nao!
Professora: Nao?
Bernardo: Tem.
Professora: Pra ser orac4o tem que ter verbo. Como é que vocé dé uma
resposta dessa?
(Aula: 9° ano, professora Rosa)
Esta sequéncia faz parte de um evento de letramento em que a
professora Rosa faz com as/os estudantes revisao de atividades pro-
postas pelo livro didatico. S40 atividades estritamente formais, abor-
dando principios da graméatica tradicional da Lingua Portuguesa.
Nesse sentido, Rosa constréi um contexto de situagao desvinculado
‘a SO i so, justifica-se um am-
vi i estudantes. Por isso, pen:
da vida social dos/as }
: di
biente atravessado por constante conversa Se epee
compreensao das/os alunas/os a respeito da “ma!
bronca da professora.
is especificamente no decorrer
8 Fo que pude notar durante a observasso das aulas, mais Me
4o evento a que esse excerto se vincula.
a OTTONI « LIMA
Aaluna Ana abre 0 turno, dizendo: “Professora, a senhora ex-
plicou e eu nao entendi”. Embora parega tratar-se de uma declaragao,
© que acontece aqui é uma troca de atividade, pois se trata de uma
aco estratégica, que consiste em dar a uma troca de atividade a apa-
réncia de uma (mera) troca de conhecimento (Fairclough, 2003, p. 106).
Assim, ao dizer a professora que nao havia entendido o que ela
explicara, Ana, na verdade, esta solicitando o seu servico: que a
professora explique novamente o contetido em discussao na aula.
Porém, a professora reage de forma negativa ao pedido, condenan-
do a estudante pelo suposto descumprimento de uma atividade:
prestar atengdo. Com esse julgamento (Martin, 2000; White, 2004), a
professora isenta-se da sua responsabilidade com um letramento
que acolhe as dtividas, atende as necessidades. Ela da a entender
que a estudante pede ajuda porque nao presta atengao as suas ex-
plicagdes e, com uma modalidade de obrigagio (“tem que”), chama a
atengao da aluna para o comprometimento para com essa atividade.
Ao atribuir a estudante a caracterfstica de desatenta, Rosa estabele-
ce um contraponto em que, do outro lado, esté o seu comprometi-
mento com a a¢ao, que é expresso na troca de modalidade deéntica
(Fairclough, 2003): “eu té explicando todo dia, todo dia...”. Enfatiza
aqui que a realizagao da atividade é continua. Portanto, nessa troca
de atividades entre Ana e Rosa, Rosa posiciona-se legitimando 0 po-
der do/a professor/a na sala de aula, pois desqualifica a necessida-
de, a demanda da estudante, atribuindo-lhe descomprometimento
com a obrigagao, que supostamente lhe é devida, e se identifica como
um sujeito que se compromete com as ofertas. Além disso, est ex-
pressa nessas trocas a concepgao do saber centralizado na professo-
ra, 0 que posiciona as/os estudantes como meros receptaculos das
explicag6es da professora.
Na continuagao desta sequéncia, Rosa, na busca do conhecimento
do que ha “dentro” de uma oracao principal, faz perguntas e o aluno
Bernardo responde. Contudo, como a primeira tentativa do aluno nao
corresponde a resposta esperada pela professora, essa reage negati-
vamente, dizendo: “Pra ser oragao, tem que ter verbo, como é que
pISCURSOS, IDENTIDADES E LETRAMENTOs
Dessa maneira, mais uma vez,
sala de aula e desqualifica }ernal
da sal uw ca a participacao do estudante B
di fi do.
Vale ressaltar que, na sentenca “
ta dessa”, o termo “dessa”, rae idence cn odes ae
valorativo em relag&o a resposta que o aluno Bemardo soenow
Fazendo cose uso, a professora indica sua atitude de en in
2000; White, 2004), julgando de modo negativo a conduta do a
dante Bernardo no evento de letramento, ou seja, a professora omnes,
sa um. juizo de condenacao a intervenco do aluno, questionando a
sua capacidade.
4, Consideracées finais
O modelo auténomo de letramento (Street, 1984, 1993) implica
a concepgao da escrita como uma entidade auténoma, compreendida
como um produto em si mesmo, independente, portanto, das deter-
minacées socioculturais. Assim, a escrita e a leitura séo consideradas
habilidades neutras desencaixadas do contexto de producao.
‘olares que estao, ainda, voltados para essa pers-
letramento orientadas para a mera fun-
cionalidade da lingua. Isso, na verdade, vai abrindo um distancia-
mento entre estudantes e professoras/es, como se fizessem parte de
diferentes mundos. E isso que s€ pode notar nos eventos protagoni-
zados pelas professoras Madalena e Rosa. Jé com relagdo aos ventas,
cujas professoras sao Patricia e Renata, é possivel pereeer aes °
eles mediados por textos que cumprem © papel de a orn ce
estudantes a pratica social, de forma a nelas/es sen eae
tido de critica no que se refere a0s problemas soc!
Pessoas no mundo.
Os contextos esc
pectiva tém suas praticas de
250 OTTONI « LIMA
Com a atenc&o voltada para o que se faz com os textos na sala de
aula, notei que as professoras Patricia e Renata focalizam a linguagem
como pratica social, o que implica uma visdo sécio-histérica e discur-
siva desse objeto. Elas privilegiam a natureza funcional e interativa
da lingua, contrariando um letramento que pde em foco o aspecto
formal e estrutural, que, tradicionalmente, vem orientando o trata-
mento dado a linguagem e que estd evidenciado nos eventos em que
as professoras Madalena e Rosa estao situadas. A lingua, pelo viés das
professoras Patricia e Renata, é compreendida como uma forma de
agao sociocultural e constitutiva da realidade. Essas professoras en-
volvem-se na construcao de significados na sala de aula, representan-
do-se com consciéncia dos géneros sociais e refletindo de forma criti-
ca sobre questées identitarias e outros problemas sociais. A didatizagao
dessas profissionais indica que elas rompem com uma pratica peda-
gégica tradicional que ainda sustenta, em muitos contextos escolares,
0 letramento em Lingua Portuguesa. Elas adotam um letramento como
pratica social, dando lugar, no espaco escolar, a leitura de textos, mo-
bilizando um estudo como pratica comunicativa socialmente situada
e contribuindo, dessa maneira, para o desempenho das/os estudantes
no que se refere @ leitura e 4 escrita, instrumentalizando-as/os a (inter)
agir discursivamente no curso das praticas sociais.
Referéncias
BARTON, D. Literacy: an introduction to the ecology of written language.
Oxford /Cambridge: Blackwell, 1994.
HAMILTON, M. Local literacies. London/New York: Routledge, 1998.
IVANIC, R. (Orgs.). Writing in the community. Newbury Park, London/
New Delhi: Sage Publications, 1991.
BAYNHAM, M. Literacy practices: investigating literacy in social contexts.
London/New York: Longman, 1995.
p1sCURSOS, IDENTIDADES E LETRAMENTOS
251
BERNSTEIN, B. Pedagogy, symbolic :
rrancis, 1996. Control and identity. London: Taylor &
CHOULIARAKI L.; FAIRCLOUGH, N, Dj :
Giitical Discourse Analysis, Balnburgh Scourse in late modernity: rethinking
Edinburgh University Press, 1999.
FAIRCLOUGH, N. Discurso e mudanga social, a
aa tie | Coord, trad. 1. Magalhdes. Bra-
. Analysing discourse: textual anab is fe i
—— t { 0
i ions ae 'ySis for social research. London/New
FOUCAULT, M: Microfisica do'poder: 13: ed. Trad: R. M:
Graal, 1979, lachado. Rio de Janei-
10: LY i
KALMAN, J. Mothers to daughters, pueblo to ciudad: women’s identity
shifts in the construction of a literate self. In: ROGERS, A. (Ed:). Urban lite-
racy: communication, identity and learning in development contexts. Ham-
burg: Publications and Information Unit/Unesco Institute of Education, 2005.
p. 183-210.
KLEIMAN, A. ContribuigGes teéricas para 0 desenvolvimento do leitor:
teorias de leitura e ensino. In: ROSING, T. M. K.; BECKER, P. (Orgs.). Leitu-
ra e animagao cultural: repensando a escola é a‘bibliotéca. Passo Fundo: Ed.
da UFP, 2002.
KOCH, I. V. Argumentagfo e linguagem. 5. ed. S40 Paulo: Cortez, 1999.
MAGALHAES, I. A Critical Discourse Analysis of gender relations in Brazil.
Journal of Pragmatics, n. 23, p. 183-197, 1995.
. Unequal discourse rights in adult literacy sites in Brazil. Rask, v. 22,
P. 37-66, 2005.
MARTIN, J. R. Beyond exchange: appraisal systems in English. In: HUNS-
TON, S; THOMPSON, G. (Orgs.). Evaluation in text: authorial stance and the
construction of discourse. Oxford: Oxford University Press, 2000. p. 142-175.
NEVES, M. H. M. Que gramiética estudar na escola? 3. ed. Sao Paulo: Contex-
to, 2006.
STREET, B. Lit feracy in theory and practice. Cambridge: Cambridge University
Press, 1984,
252 OTTONI » LIMA
STREET, B. (Ed.). Cross-cultural approaches to literacy. Cambridge: Cambridge
University Press, 1993.
. Literacy events and literacy practices: theory and practice in the new
literacy studies. In: MARTIN-JONES, M.; JONES, K. (Eds.). Multilingual li-
teracies: reading and writing different worlds. Amsterdam/Philadelphia:
John Benjamins, 2000.
THOMPSON, J. B. Ideologia e cultura moderna: teoria social na era dos meios
de comunicagao de massa. 5. ed. Trad. Grupo de Estudos sobre Ideologia,
Comunicagao e Representagdes Sociais da Pés-Graduago do Instituto de
Psicologia da PUC-RS. Petrépolis: Vozes, 1995.
WHITE, P. R. R. Valoragéo — a linguagem da avaliacdo e da perspectiva.
Trad. D. C. Figueiredo. Linguagem em (Dis)curso, Tubarao, v. 4, ntimero espe-
cial, p. 178-205, 2004.
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- pbarros1,+89641-128210-1-CE (1)Document20 pagespbarros1,+89641-128210-1-CE (1)LOUISE LEITE MAROTINHONo ratings yet
- [Texto 02] MAINGEUNEAU-D. A-noção-de-discurso-p.23-33Document13 pages[Texto 02] MAINGEUNEAU-D. A-noção-de-discurso-p.23-33LOUISE LEITE MAROTINHONo ratings yet
- Andre FPDocument9 pagesAndre FPLOUISE LEITE MAROTINHONo ratings yet
- 18EducaoLingustica - Direitos Humanos - Hildomar e TaniaDocument19 pages18EducaoLingustica - Direitos Humanos - Hildomar e TaniaLOUISE LEITE MAROTINHONo ratings yet
- Pcds Na Educação InfantilDocument14 pagesPcds Na Educação InfantilLOUISE LEITE MAROTINHONo ratings yet
- PALHARES - Texto Do Encontro 7Document15 pagesPALHARES - Texto Do Encontro 7LOUISE LEITE MAROTINHONo ratings yet
- Pistasperfurarrasgos - Micropolíticas (Artes)Document150 pagesPistasperfurarrasgos - Micropolíticas (Artes)LOUISE LEITE MAROTINHONo ratings yet
- Butler Judith Relatar A Si Mesmo Critica Da ViolenDocument264 pagesButler Judith Relatar A Si Mesmo Critica Da ViolenLOUISE LEITE MAROTINHONo ratings yet
- Entrevista Com Clare HemmingsDocument22 pagesEntrevista Com Clare HemmingsLOUISE LEITE MAROTINHONo ratings yet










































![[Texto 02] MAINGEUNEAU-D. A-noção-de-discurso-p.23-33](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/738642108/149x198/592c59ace2/1717372207?v=1)