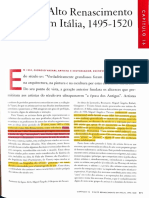Professional Documents
Culture Documents
Figueiredo, Virginia-Kant - Liberdade Da Forma e Forma Da Liberdade
Figueiredo, Virginia-Kant - Liberdade Da Forma e Forma Da Liberdade
Uploaded by
Mel Oliveira0 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 views20 pagesOriginal Title
Figueiredo, Virginia-Kant_Liberdade da forma e forma da liberdade
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
6 views20 pagesFigueiredo, Virginia-Kant - Liberdade Da Forma e Forma Da Liberdade
Figueiredo, Virginia-Kant - Liberdade Da Forma e Forma Da Liberdade
Uploaded by
Mel OliveiraCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 20
KANT: LIBERDADE DA FORMA E
FORMA DA LIBERDADE!
— Virginia Figueiredo
Ampliar a arte?
Nao. Antes toma a arte para ir contigo
na via que é mais estreitamente a tua.
E liberta-te.
— PAUL CELAN, O meridiano
O segundo nascimento da Estética
Como me coube a tarefa de abordar o pensamento de Kant
sobre a arte, terei de enfrentar, logo adiante, a interpretagao
quase cristalizada segundo a qual, se nao é negativamente, é de
modo bastante ambiguo que Kant, no final do século XVIII,
inseriu, dentro da sua fenomenal Estética, o problema da arte.
Sao varios argumentos bastante consistentes, alids, que levaram
o comentario oficial a decidir por aquela posigdo negativa dian-
te da arte. O primeiro desses argumentos afirma: como o prin-
cipal problema da Estética de Kant é 0 jufzo estético, o ponto de
vista nela privilegiado é 0 do espectador, e nao o do artista. Em
outras palavras, trata-se de uma teoria do gosto ou, como diz
Henry E. Allison,? mais de uma “Estética da Recepg4o” do que
de uma “Estética da Produgdo (Criagao)”.
Em seguida, alega-se que, em geral, para Kant, o belo que €
digno de toda atengao é aquele que a natureza produz involun-
taria e espontaneamente, i.e., sem qualquer intengdo ou finali-
dade. Em contrapartida, o carater inegavelmente intencional e
artificial das obras de arte despertaria no filésofo muito pouca
(ou até nenhuma) simpatia por elas.
OS FILOSOFOS E A ARTE 59
O argumento definitivo, no entanto, os intérpretes encon-
tram explicitado claramente no pardgrafo 42 da Critica da facul-
dade do juizo,} 0 qual estabelece literalmente uma diferencga
entre os homens de gosto que admiram a beleza da natureza e
aqueles que cultivam o belo artistico, diferenga essa que é bastan-
te desfavoravel aos tiltimos: enquanto os primeiros denotariam
uma “disposigéo de 4nimo favoravel ao sentimento moral”,4 os
amantes da arte seriam “habitualmente vaidosos, caprichosos [e]
entregues a perniciosas paix6es”. Como o sistema da filosofia
kantiana foi entendido tradicionalmente como convergéncia
rumo 4 moralidade, pode-se avaliar o quanto essa indisposigao
dos admiradores do belo artistico para o “moralmente bom”
constituiu um argumento fatal contra a arte. Last but not least, o
Unico artista que entra e sai da pélis kantiana sem ser barrado €
o génio, pois, na verdade, a sua regra € a mesma da natureza. Isso
quer dizer, pelo menos paradoxal e aparentemente, que a regra
do génio, em ultima andlise, nao é... artistica.
No entanto, nesse quadro — de modo geral bastante desfavo-
ravel 4 arte — encontramos alguns intérpretes, dentre os quais
destaco o proprio H. Allison e Eva Schaper (cujas leituras me
fornecerao, em varios momentos deste texto, um importante fio
condutor), que consideram que nao devemos entender a refle-
x4o kantiana sobre a arte e 0 génio como sendo apenas uma
nota marginal ou uma digressao com relagao 4 questao do gosto
que ocupa inquestionavelmente um lugar privilegiado na CFJ.
Cito Schaper:
O presente estudo j4 esta comprometido com a visao de que 0
problema do gosto é central para a estética de Kant (um com-
promisso refletido pela proeminéncia dada A sua elucidagio);
mas nem por isso est comprometido em garantir que as sees
sobre arte e genialidade tenham apenas uma importancia mar-
ginal ou constituam uma digressdo do tema principal. [...] Uma
das razdes pelas quais 0 pensamento de Kant sobre a arte
encontra com frequéncia uma resposta confusa € que o préprio
Kant, aparentemente, admite uma nitida preferéncia pela bele-
60 Virginia Figueiredo
za natural em detrimento da beleza artistica. Outra razao é que
os fatos de sua vida, tal como os conhecemos, indicam que era
improvavel a sua familiaridade com trabalhos artisticos. “Kant
provavelmente nunca viu uma bela pintura ou uma bela escul-
tura... Seu gosto musical era completamente filisteu e apenas
para a literatura o seu senso critico era refinado e preciso.”
[LEWIS WHITE BECK, Early German Philosophy: Kant and his
Predecessors. Cambridge, Mass.: Harvard University Press,
1969, p. 498] Sabendo isso sobre Kant, sempre ouvimos que,
dificilmente, sua teorizagao sobre a arte poderia inspirar con-
fianga. Entretanto, deveria ser ébvio que tais observagdes nao
tém peso para desqualificar os seus insights filoséficos. Ainda
assim, com frequéncia permitimos que elas perturbem a nossa
ateng4o ao que Kant tem a dizer.
Seguindo os conselhos de Schaper e sem deixar que as
observagées sobre o “filisteismo” e o mau gosto de Kant pertur-
bem a nossa atengao, tentemos ouvir o que ele tem a nos dizer
sobre o problema da arte abordando sua complexa e importante
obra, a Critica da faculdade do juizo, na qual est4 condensada
toda sua sistemAtica Estética. Recomecemos, entao, lembrando
o imenso impacto que a CFJ promoveu na sua €poca, impacto
que, alias, a meu ver, continua a suscitar na nossa contempora-
neidade. Nao hesitaria em afirmar que sua publicagdo, em 1790,
provocou uma verdadeira revolug4o copernicana no centro
daquela disciplina recém-fundada, cujo nome de batismo foi
precisamente Estética. Ou concordar com Benedito Nunes,®
quem, um dia, escreveu que a Estética teve um duplo nascimen-
to: a primeira vez, com os gregos, quando o belo nao tinha qual-
quer autonomia e n4o se diferenciava nem do bom nem do
verdadeiro e, um segundo nascimento, justamente com Kant.
O mesmo Nunes, em seu livro Introdugdo 4 filosofia da arte,
ensina que a Estética moderna foi precedida pela “uniao teérica
do Belo com a Arte”, a qual se deu no Renascimento, e, além
disso, que essa unido s6 péde ocorrer em virtude da mediagao
de uma “terceira ideia, a de Natureza, a qual nessa época adqui-
riu sentido preciso”.”
OS FILOSOFOS E A ARTE 61
Veremos o quanto a ligagao da Arte com a Beleza através da
mediagdo do conceito de natureza constitui uma das mais pode-
rosas chaves de leitura da Estética kantiana. Pode-se dizer com
bastante legitimidade (como tantas vezes insistiu a critica hege-
liana) que um dos pontos de partida da Estética de Kant é preci-
samente o “belo natural”. Mesmo deixando Hegel de lado,
temos de reconhecer que a quase totalidade dos temas na CFJ
converge para a natureza. Se nos propusermos a pensar na
CFJ dentro do contexto da filosofia critica como um todo, espe-
cialmente nos termos das duas Introdugées,8 poderemos con-
cluir, com algum acerto, que ela constitui nada mais do que
outro ponto de vista a partir do qual encarar a (mesma) nature-
za. Frequentemente, Kant se referiu a essa nova perspectiva
inaugurada pela CFJ como “técnica” ou “artistica”, diferente
daquela que caracterizara a Critica da razdo pura, que era
“mecAnica” ou “cientffica”. Portanto, apreender a natureza este-
ticamente significa apenas contempla-la (deter-se na admiragdo
de suas formas) sem qualquer interesse teérico-cognitivo ou
pratico. Além disso, como dito anteriormente, a necessidade de
afirmar o belo natural em detrimento do belo artistico talvez
decorra da impossibilidade de atribuirmos vontade ou intengao
4 natureza, liberando assim o belo de todo e qualquer ajuiza-
mento moral.?
As miultiplas espécies de Arte
Na4o havendo espago aqui para tratar dos quatro momentos
(qualidade, quantidade, relacdo e modalidade)!° nos quais se
divide a “Analitica do Belo”, que € o primeiro livro da primeira
parte — “Critica da faculdade do juizo estético” — da CF], e,
muito menos, tratar dos dois modos (matemiatico e dinamico)
de considerar o sublime, passo diretamente ao § 43 (“Da arte em
geral”), ou seja, quase ao final da primeira parte da CF] (que aca-
ba no § 60).11 Claro que, antes disso, Kant havia feito referéncias
62 Virginia Figueiredo
dispersas 4 arte, mas apenas ai (§ 43), ele ensaia uma definigao
sobre arte que, segundo Allison, tem a forma de uma definigao es-
colistica,!2 dividida em géneros e espécies. H4 uma verdadeira
proliferagao de diferenciagées. Primeiramente, para definir a
“arte em geral”, Kant tem de fazer grandes distingdes “genéri-
cas”: entre arte e natureza, entre arte e ciéncia e, finalmente,
entre arte e técnica. A distingao mais importante é entre arte e
natureza, que vai, posteriormente, desdobrar-se numa discussao
mais séria do que as outras.13 Kant, entao, comega distinguindo
o fazer (artistico), do qual resulta uma obra, do agir (natural),
do qual resulta um efeito: “A arte distingue-se da natureza,
como o fazer (facere) distingue-se do agir ou atuar em geral
(agere) e 0 produto ou a consequéncia da primeira, enquanto
obra (opus), distingue-se da ultima como efeito (effectus).”14
Assim, continua o filé6sofo, embora alguns gostem de chamar a
colmeia de obra de arte, isso nao esta rigorosamente correto,
pois nao se pode alegar que ela tenha como fundamento uma
“ponderagao racional”. Essa primeira distingdo entre um produ-
to da natureza e da arte estabelece que, sendo esta tiltima, obra
dos homens, ela tem uma origem racional, enquanto o produto
da natureza, no caso, das abelhas, € puramente instintual, sem
consciéncia. Aqui também se anuncia outro problema sério para
quem pretende interpretar a CFJ como um todo sistematico,
como € 0 caso de Allison.
Tentemos esclarecer um pouco esse problema. Se nao se
quer admitir que tanto a quest4o da arte quanto a do génio (liga-
das claramente a uma “Estética da criagdo”) estejam fora da
moldura da CFJ, que estaria voltada exclusivamente para a ques-
tao do gosto e, portanto, do juizo estético do espectador, entao
é necessario desfazer as contradigdes que suscitam a considera-
¢4o, dentro do sistema, daquela consciéncia,!5 intengao ou
“ponderacao racional”,!6 essenciais A definigdo da obra de arte.
O problema € que a indeterminagado conceitual esteve presente,
pelo menos, em trés momentos importantes do argumento kan-
tiano (na “Analftica do Belo”), ao caracterizar as condigdes do
OS FILOSOFOS E A ARTE 63
juizo estético puro. No primeiro momento, quando se tratava
de distinguir o belo do interesse pratico; no segundo momento,
ao diferenciar a universalidade objetiva (fundada em conceitos)
teérica ou pratica da universalidade subjetiva estética (que é
sem conceitos); no terceiro momento, ao exigir que nenhuma
representagao de fim antecedesse a percepgao da forma da con-
formidade a fins.17 HA uma clara tens4o entre o principio (inde-
terminado conceitualmente) que rege a contemplac¢ao do belo
natural e aquele que julga a intenga4o ou mesmo uma represen-
tagao de fim que est4 implicada até no ajuizamento da beleza
artistica,!8 e a fortiori na produgao artistica. O ensaio de
Allison, “Fine arts and Genius”, j4 citado aqui, dedica-se priori-
tariamente A solugdo dessa tenséo. Ou bem concluimos, seguin-
do a “letra” do texto kantiano, que o sentimento de prazer com
o belo artistico, ao contrario daquele com a beleza natural, nao
“prepara” o 4nimo do espectador para experiéncia moral,19 ou
bem decidimos seguir um certo tour de force que Allison faz
para incluir o belo artistico, a arte e o génio sem contradicgées
dentro do sistema transcendental da Estética kantiana. Voltarei
a essa interpretagdo um pouco mais adiante.
Por enquanto, prossigo com os pardgrafos da “definicao
escolastica” da arte (§§ 43 e 44). A segunda disting4o (ainda
genérica) diz respeito a arte e a ciéncia. Kant conclui junto com
o senso comum: saber é diferente de poder. Alguém pode saber
exatamente o que deve ser feito e nao possuir a habilidade para
fazé-lo. E inegavel que a arte esta implicada com uma pritica.
Mas de que tipo ser4 essa pratica? Tratar-se-4 somente de uma
técnica, portanto, de um fazer? Ou, antecipando-me ao que
ainda veremos mais adiante, pressupondo a relacao intima da
arte com a natureza, ser4 legitimo perguntar: trata-se de um
agir? A tais quest6es Kant responde com mais uma distingao, a
terceira (§ 43), que se da entre arte e artesanato, ou, com outras
palavras, entre artes livres e oficio (Handwerk). A primeira jus-
tificativa para esta ultima distingao é bastante fragil e nos con-
vence pouco. O filésofo afirma que as artes livres parecem um
64 Virginia Figueiredo
jogo, i.e., “uma ocupagdo que é agradavel por si mesma”,
enquanto o offcio € um “trabalho, isto é, ocupagdo que por si
prépria é desagradavel (penosa) e é atraente somente por seu
efeito (por exemplo, pela remunerag&o) que, por conseguinte,
pode ser imposta coercitivamente”.?! Ora, sabe-se que um artis-
ta pode sofrer muito enquanto produz sua obra e, vice-versa,
que um artesdo pode ter muito prazer durante a execugdo do
seu trabalho. Ja o fundamento seguinte para a distingao
(arte/técnica) é mais consistente e suscita a nossa adesao. Kant
reivindica a presenga do espirito nas artes que sao chamadas de
“livres”. Esse “espfrito”, no qual j4 podemos pressentir seu
estreito elo com o génio (a “Teoria do génio” comega no § 46),
constitui o elemento que vivifica e intensifica a experiéncia esté-
tica propriamente dita e prepara a distingao do par4grafo
seguinte (§ 44) — entre as artes mecdnicas e estéticas -, 0 que
parece ocorrer j4 dentro do “género”, quero dizer, a distingao
talvez ja se dé entre as “espécies” de arte. Mas, antes de chegar
a elas, preocupemo-nos em resumir a definigdéo de “arte em
geral”. Mesmo que o préprio Kant nao nos oferega um resumo
(como fizera, por exemplo, nos quatro momentos da “Analitica
do Belo”), Allison o faz para nés:
Arte em geral pode ser definida como uma atividade intencio-
nal de seres humanos que visa a produgdo de certos objetos e
requer um grau significativo de habilidade ou talento de alguma
espécie. Correlativamente, os produtos dessa atividade sao
obras de arte.22
Kant comega o § 44 (“Da arte bela”) afirmando a impossibi-
lidade de uma “ciéncia do belo”. No ambiente da arte, ao con-
trario do da ciéncia, h4 no m4ximo uma “erftica”. E por que
Kant, mais do que qualquer outro filésofo, pode afirmar isso
radicalmente? Porque foi ele quem defendeu esse “lugar especf-
fico” do estético, que é 0 da reflexao:73 nem sensivel imediata-
mente, nem (0 que nos interessa aqui enfatizar) conceitual. Os ro-
manticos — e Walter Benjamin na esteira destes — perceberam
OS FILOSOFOS E A ARTE 65
logo as {ntimas implicag6es entre esses dois conceitos kantianos
de “reflexao” e de “critica” e souberam exploré-las. Se € possi-
vel dizer que o legado kantiano tem alguma atualidade,?* ela se
deve, a meu ver, a essa “dupla conceitual” (reflex4o e critica),
cuja vigéncia atrevo-me a dizer que se manteve praticamente
inalterada, apesar da imensa distancia que nos afasta daquela
Estética. Apesar de essa afirmagao ter ares de eternidade, ouso
reiterar essa vocagao da critica, pelo menos, enquanto existir
algo a que chamemos “arte”.
Em seguida, como € frequente, antes de defini-la, Kant
saneia a nogao “arte bela” e trata de desfazer 0 “equivoco termi-
noldégico”,25 talvez corrente em sua época, de uma “ciéncia
bela”, insistindo que apenas a “arte” pode ser chamada de
“bela”. Ele explica: se, para fazer a bela arte, é preciso muita
ciéncia, por exemplo, para fazer uma bela poesia é necessario
conhecer oratéria, versificacao, linguas antigas, a poesia de
outros poetas etc., isso nao quer dizer que a propria ciéncia seja
bela. E ele conclui: “uma ciéncia que devesse ser bela é um
contrassenso.”26
Dando prosseguimento A operag&o analftica (multiplicando
distingdes e separagées), Kant divide agora a arte em geral em
artes mecAnicas ou estéticas. Estas ultimas, as “estéticas”, sao,
por sua vez, divididas em agradaveis ou belas. Aqui esta valendo
um critério muito pr6éximo Aquele que servira para separar os
juizos determinantes dos juizos reflexivos, pois as “artes meci-
nicas” sao aquelas que “conforme ao conhecimento de um obje-
to possivel, simplesmente executa[m] as ag6es requeridas para
torna-lo efetivo”;27 enquanto a “arte estética tem por inteng4o
imediata o sentimento de prazer”.28 Além da distingao entre
determinagao e reflexdo, talvez seja possivel compreender 0
sentido da oposicdo entre artes mecanicas e estéticas se apelar-
mos para outra distingdo feita no primeiro momento da
“Analitica do Belo”: entre o belo, 0 bom (tanto o “bom para”,
instrumental e técnico, quanto o “bom em si mesmo”) ¢ 0 agra-
davel. Enquanto as artes mec4nicas necessitam de um conceito,
66 Virginia Figueiredo
as estéticas, envolvidas exclusivamente com o sentimento de
prazer, dele nao necessitam:
Bom é o que apraz mediante a razao pelo simples conceito.
Denominamos bom para (0 titil) algo que apraz somente como
meio; outra coisa, porém, que apraz por si mesma denomina-
mos bom em si. Em ambos est4 contido o conceito de um fim,
portanto a relagao da raz4o ao (pelo menos possivel) querer,
consequentemente uma complacéncia na existéncia de um obje-
to ou de uma ago, isto é, um interesse qualquer.
Para considerar algo bom, preciso saber que tipo de coisa o
objeto deva ser, isto é, ter um conceito do mesmo. Para encon-
trar nele beleza, nao o necessito.2?
A distingao seguinte, dentro da “espécie” (“artes estéticas”)
— entre “artes agradaveis” e “artes belas” —, s6 sera plenamente
elucidada, a meu ver, se avangarmos um pouco mais na discus-
sao daquela distingao (entre o belo, o bom e o agradavel) conti-
da no primeiro momento da “Analitica do Belo”. La, os juizos do
agrad4vel estavam ligados 4 faculdade inferior de apetigao, em
outras palavras, aos nossos desejos naturais e, por isso, os jufzos
eram empiricos. Aqui, as “artes agrad4veis” sao aquelas que
podem deleitar a sociedade em uma mesa: narrar entretendo,
conduzir os comensais a uma conversacio franca e viva, disp6-
la pelo chiste e 0 riso a um certo tom de jovialidade, no qual,
como se diz, pode-se tagarelar a torto e a direito e ninguém
quer ser responsavel pelo que fala, porque ele esta disposto
somente para o entretenimento momentaneo e nao para uma
matéria sobre a qual deva demorar-se para refletir ou repetir.3°
Se era 0 critério do conceito que permitia distinguir o bom do
belo, a distingao agora entre o agradavel e o belo se da através da
sensagao. Tanto aqui (§ 44) quanto 4 (§ 3), o “agradavel” esta
ligado a sensag4o imediata, por isso as artes agraddveis ndo dao o
que pensar nem refletir, e “ninguém quer ser responsavel pelo que
fala”. Kant inclui ainda, nessa categoria do “agradavel”, todos os
jogos que “deixam o tempo passar imperceptivelmente”.3!
OS FILOSOFOS E A ARTE 67
Diferentemente do pardgrafo anterior, aqui, Kant se preo-
cupou em nos oferecer um resumo da definigdo de “arte bela”:
Arte bela [...] é um modo de representacao que € por si prépria
conforme a fins e, embora sem fim, todavia promove a cultura
das faculdades do animo para a comunicagao em sociedade.
A comunicabilidade universal de um prazer j4 envolve em seu
conceito que o prazer nao tem de ser um prazer do gozo a par-
tir da simples sensagao, mas um prazer da reflexao; e assim a
arte estética é, enquanto arte bela, uma arte que tem por padrao
de medida a faculdade de juizo reflexiva e nao a sensagao sen-
sorial.32
As artes belas despertam assim um prazer reconhecido por
Kant como “da reflexdo”, e isso significa que esse prazer nao
provém dos sentidos, como no caso das artes agradaveis.
E, além disso, ao afirmar que a faculdade envolvida na avaliagio
das artes belas € a faculdade de julgar, Kant acaba por inclui-las,
sem dtivida, na sua Estética sistem4tica. Errarfamos em nao dar
a devida atengdo a esse § 44 da CFJ, pois, na verdade, é ele que,
de modo bastante sutil, inclui a “arte bela” dentro do problema
da “Critica do gosto”, justamente ao afirmar que o prazer pro-
movido pela “arte bela” € reflexivo e que seu “padrao de medi-
da” € a faculdade de juizo. Mas toda inclusao tem seu negativo,
que € a exclusao. De fato, ao “elevar” (dignificando-a) a arte
bela, num gesto correspondente, Kant exclui as “outras” artes:
nao sé aquelas baseadas em conceitos, i.e., as mecanicas (ou
Uiteis), o artesanato, as artes de officio; como aquelas “agradé-
veis”, como é 0 caso dos jogos, da conversagao etc.
S6 apés essa “dignificagao” (a qual correspondem varias
exclusédes), € possivel “chegar” ao § 45, no qual a arte bela (e so-
mente ela) ser4 relacionada a natureza. E essa “passagem” pela
natureza que permite que, a partir do § 46 (“Arte bela é arte do
génio”), a arte bela seja identificada como produto do génio,
aquele que é dotado pela natureza. Alias, para fazer uma “pres-
tag4o” completa do pensamento de Kant sobre a arte, seria
s Virginia Figueiredo
necess4rio tentar uma “atualizagdo” da teoria do génio. E pro-
vavel que nao haja mais espago para isso aqui.
Abismo no fundamento
natural da arte bela!
Seguirei inteiramente a orientagdo de Allison quando ele afirma
que “a séria discussao kantiana sobre a arte comega no § 45”,33
cujo titulo “Arte Bela é uma arte enquanto parece ao mesmo
tempo ser natureza” j4 anuncia, pelo menos, a metade do pro-
blema, ou seja, o fato de Kant sé considerar bela a arte que pare-
ce ser natureza. A outra metade Kant nao acrescenta no titulo,
mas sim na primeira frase do § 45: “Diante de um produto da
arte bela tem-se que tomar consciéncia de que ele é arte e nao
natureza.”34 Embora as duas considerag6es tomadas em conjun-
to possam parecer paradoxais (pois o que esta implicito no con-
ceito de “arte” [a intengao, a finalidade] € precisamente o que
deve faltar, ou melhor, deve estar excluido do conceito de “na-
tureza”), Allison defende que elas nao sao “contraditérias entre
si”.35 O argumento de Allison para desfazer esse aparente para-
doxo da teoria da arte kantiana depende de uma comparagao
com a nogao de “Fim natural” que €, por sua vez, “um conceito
central da Critica do Juizo Teleolégico e que é supostamente
aplicavel aos seres organicos”.3¢ A interpretag4o que Allison faz
da teoria kantiana da arte parte, portanto, de um inegavel pres-
suposto: a identificagao da obra de arte com o organismo. Antes
de explorar essa possivel identidade, voltemos ao § 45.
Mesmo que concordemos com Allison, que nao se trata de
exigéncias contraditérias entre si, devemos, no entanto, reco-
nhecer a dificuldade da perspectiva do espectador da obra de
arte bela. Ao contemplar algo designado belo, dele é exigido, no
minimo, que ocupe um duplo lugar (do Ser e do Parecer) simul-
taneamente: a partir do “ser” (de que seja efetivamente a arte),
ele tem de manter a consciéncia de que se trata de uma obra de
OS FILOSOFOS E A ARTE 69
arte, isto é, de uma obra cujo fundamento se “refere [...] a algu-
ma intengao qualquer e a um fim determinado”.37 Nessa primei-
ra atitude, relacionada A sua esséncia, a arte é simplesmente
oposta a natureza. Além de ser “artificio”, nada mais aqui se
determina, pois, A semelhanga do conceito de belo, o conceito
kantiano de arte permanece indeterminado (arte é obra do
talento humano). JA a partir do parecer (o que a torna bela), isto
é, partindo da forma que tem o objeto, o espectador deverd sen-
tir “a liberdade no jogo de [suas] faculdades de conhecimento
[sobre a qual] assenta aquele prazer que, unicamente, é univer-
salmente comunicdvel, sem contudo se fundar em conceitos”.28
E notavel como essa segunda distingdo utiliza os mesmé
mos termos que definiam o sentimento de prazer com o belo
natural,39 e, por conseguinte, ao aproximar a arte bela da natu-
reza, Kant parece querer minimizar a importancia da participa-
¢40 do conceito na relagdo do espectador com o belo artistico.
O principal resultado dessa aproximagao consiste justamente
em, contrariando aquela impressao gerada pela letra do § 42,
citado no inicio deste texto,4° poder afirmar que também 0 belo
artistico “prepara” o 4nimo para o sentimento moral. Nesta
concepgao “classica”, a bela arte parecer natureza quer dizer,
acima de tudo, que os meios e o esforgo através dos quais ela foi
produzida nao devem aparecer. A beleza tem de parecer espon-
tanea, casual, gratuita. Ela tem de promover no espectador 0
jogo livre das faculdades do espirito: imaginagao e entendimento.
Essa segunda distingéo pretende ainda enfatizar aquela separa-
g4o da bela arte das outras artes, por exemplo, das artes meca-
nicas ou das artes de officio, nas quais o usuario (e nao mais 0
espectador) avalia a adequag’o do objeto, segundo seu conceito
e sua finalidade previamente estabelecidos.
Descobrimos ainda no final do primeiro pardgrafo da pagi-
na (B 179), que a relagdo entre a arte bela e a bela natureza ¢
uma via de mao dupla: se, por um lado, a arte bela é aquela que
parece ser natureza, por outro lado, fazendo o “caminho de
volta”, Kant lembra a tese que sempre esteve subjacente ao texto
70 Virginia Figueiredo
da CFJ, a de que “a natureza era bela se ela ao mesmo tempo
parecia ser arte”.41 A tese do belo natural enquanto arte pode
ser elucidada n4o sé pelo terceiro momento da “Analitica do
Belo”, no qual se fala da beleza enquanto “uma forma da con-
formidade a fins”,42 como também pela ideia de uma “técnica
da natureza” que est4 presente nas duas Introdugées. A nature-
za pensada nao mecanica, mas “técnica ou artisticamente”,
como dizia a letra do préprio Kant, é aquela capaz de abranger
em si os organismos, que sao aqueles “produtos da natureza [...]
que contém em si mesmos uma tal vinculagao das causas eficien-
tes, que em seu fundamento temos de colocar o conceito de
um fim”.43
Allison vai buscar na segunda parte da CFJ, na “Critica da
faculdade de jufzo teleolégica”, a definigao kantiana de “fim
natural” como “causa e efeito de si mesma”.44 O tinico proble-
ma € que essa definigdéo que Kant esta aplicando a Arvore,
a ontologia tradicional s6 “permitia” aplicd-la a Deus; para a
ontologia, apenas Deus é causa sui.45 Isso quer dizer que reen-
contramos uma espécie de teologia natural, como me pareceu
Lébrun apontar no seu ensaio “A terceira Critica ou a teologia
reencontrada?”.46 A justificativa, em Ultima instancia, da exis-
téncia dos organismos na natureza, dessas entidades que, como
aponta Allison, nao apenas sao “organizadas”, mas se “auto-
organizam”, seria imaginar um autor genial e inteiramente
racional, colocado de fora como um Deus Criador? — Nao!
Continuemos com Allison, explorando a mise-en-abime que
constitui, sem dtivida, essa relagao de espelhamento, que Kant
nos propée, entre natureza e arte. Cito Allison:
Assim como acabamos de ver que o problema na concepgao da
possibilidade da obra de arte € conceber como um objeto pode
parecer “natural”, no sentido de aparecer como se nao [fosse]
projetado [designed], mesmo sabendo que é um produto da arte
(e portanto projetado); agora aprendemos que o problema na
concepgao da possibilidade da finalidade natural é entender
como um objeto pode continuar a ser concebido a luz da ideia
OS FILOSOFOS E A ARTE 71
de finalidade (ou como se fosse uma obra de arte), apesar do
fato de saber que é um produto da natureza.4”
Resumindo numa parAfrase a citag4o, temos: de um lado, o
belo natural, cuja forma parece que € artistica; de outro, o belo
artistico, cuja forma parece que é natural. Segundo Allison, em
ambos os casos, da natureza e da arte, Kant tentava, dificilmen-
te, fazer uma “revisdo significativa do nosso modo corriqueiro
de entender a causa eficiente”.48 De fato, varios conceitos da
CFJ convergem para uma critica da ideia de uma produgao
voluntdria,49 a qual esta sempre implicita no nosso modo de
pensar a causalidade eficiente de acordo com o modelo fabril,
artesanal. Prova disso € a nossa tendéncia a “resolver” o proble-
ma das condigées de sua possibilidade, quer do organismo, quer
da obra de arte colocando como causa um demiurgo, respectiva-
mente, Deus ou o artista genial. Kant estava tentando delimitar
uma causalidade sui generis que manteria uma “remota analo-
gia” com a nossa familiar causalidade final,5° a qual pareciaa ele
estar em jogo tanto no organismo quanto na obra de arte.
Conclusao
Nao vejo outra “safda” para o raciocinio circular e ao mesmo
tempo abissal, a nao ser que apelemos para a questo da liberda-
de. E ela que nos fornecera um fio condutor, para usar a expres-
sao de Lébrun: “uma linha de horizonte [ou limite] de tracado
cheio”, capaz de nos langar para além da circularidade que pode
se tornar viciosa. Assim, a indeterminag4o conceitual que Kant
insiste em preservar como essencial ao sentimento de beleza
(tanto natural quanto artfstica) tem uma fungao muito impor-
tante, na medida em que nega que o sentimento de prazer seja
constitufdo por qualquer verificagao da adequagao de uma
forma ao seu contetido, como Hegel, depois de Kant, de modo
retrogrado, irda sugerir. Um dos motivos que, a meu ver, propi-
cia o prazer que sentimos diante do belo (natural ou artistico) é
72 Virginia Figueiredo
que ele nos torna testemunhas da liberdade, que, nesse caso,
tanto faz se provém da natureza ou da arte. O importante é que
se possa traduzir “sentimento da reflexao” por “sentimento de
liberdade”. Poderiamos talvez resumir que a beleza (natural ou
artfstica) seja a forma da liberdade ou, o que da quase no
mesmo: que a forma bela resulte da “acgdo”, do “trabalho” da li-
berdade (todos os termos aqui sao impréprios para designar 0
modo como ela age)... Por isso, apelamos para termos como
“originalidade”, “genialidade”. Mas talvez o melhor nome da
liberdade seja aquele que Hannah Arendt deu, inspirada por um
inédito Agostinho: um comego. E comego quer dizer que 0 pra-
zer com a forma da liberdade advém de uma experiéncia de
ampliagaéo de mundo. O tempo e 0 espacgo do mundo sao
ampliados pela liberdade da forma. Tanto na natureza que pare-
ce arte quanto na arte que parece natureza, encontramos essa
forga do inaugural, do comego.
Concluindo, cito uma longa e bela passagem de Arendt
sobre 0 conceito de liberdade:
Encontramos em Agostinho nao apenas a discussao de liberda-
de como liberum arbitrium, embora essa discussao se [tenha
tornado] decisiva para a tradicao, mas também uma nogio, con-
cebida de modo inteiramente diverso, que surge, caracteristica-
mente, em seu unico tratado politico, De Civitate Dei. Em A Ci-
dade de Deus, {...] a liberdade € concebida nao como uma dis-
posigéo humana {ntima, mas como um carater da existéncia
humana no mundo. Nao se trata tanto de que o homem possua
a liberdade como de equacioné-lo, ou melhor, equacionar sua
aparicéo no mundo, ao surgimento da liberdade no universo; 0
homem € livre porque ele € um comego e, assim, foi criado
depois que o universo passara a existir: [Initium] ut esset, crea-
tus est homo, ante quem Nemo fuit.5! No nascimento de cada
homem esse come¢o inicial é reafirmado, pois em cada caso
vem a um mundo jé existente alguma coisa nova que continua-
r4 a existir depois da morte de cada individuo. Porque é um
comego, o homem pode comegar; ser humano e ser livre séo
uma tinica e mesma coisa. Deus criou o homem para introduzir
no mundo a faculdade de comegar: a liberdade.52
OS FILOSOFOS E A ARTE 73
Para fechar 0 circulo, quero relacionar o epilogo com a epi-
grafe. Se cada homem, ao nascer, € um comego, como diz
Arendt, posso concluir que a liberdade de cada um encontra-se
na sua “singularizagao”. Sem tempo nem espago para desdobrar
sobre a teoria kantiana do génio as consequéncias das reflexées
de Arendt sobre a liberdade, gostaria apenas de indicar para
onde acredito que elas apontem. Para a perspectiva de o génio
nao ser nenhuma subjetividade excepcional — nem mesmo,
como entendera Deleuze, uma “intersubjetividade excepcio-
nal”53 —, mas tao somente uma espécie de protétipo da subjeti-
vidade transcendental. Talvez o génio nada mais seja
do que alguém que levou as tiltimas consequéncias 0 proceso
de “singularizagdo”, ou, parafraseando o trecho do discurso do
poeta Paul Celan, que serviu de epigrafe para este texto: alguém
que estreitou a via que era sua, e libertou-se.
NOTAS
1 Este texto € um dos resultados da pesquisa que desenvolvo com apoio de
uma Bolsa de Produtividade do CNPq, intitulada “Kant e a arte contem-
poranea”, mas também remaneja alguns antigos textos publicados sobre
a Critica da faculdade do juizo, de Kant. Cabe mencionar, sobretudo,
O génio kantiano ou o refém da natureza. In: Impulso, Revista de
Ciéncias Sociais e Humanas, v. 15, n. 38, set.-dez. 2004.
2 Allison. Fine Art and Genius. In: Kant’s Theory of Taste: a Reading of
the Critique of Aesthetic Judgment, Cambridge, Mass.: Cambridge
University Press, 2001. No entanto, Allison situa-se justamente entre os
autores que subvertem aquela perspectiva tradicional e conseguem
encontrar um lugar de muita importancia para a arte na Estética de Kant.
Como ele demonstra nesta passagem, p. 279: “Deve-se reiterar que ¢
precisamente o problema da explicacdo da possibilidade da produgéo da
obra de arte (aquela que parece natureza, embora estejamos conscientes
dela como arte) que levou Kant a sair do foco exclusivo da questio do
gosto (ou de uma ‘Estética da Recepgo’) para o problema da produgio
artistica (ou ‘Estética da Criagao’).”
74 Virginia Figueiredo
3 Kant. Critica da faculdade do juizo. Trad. Valétio Rohden e Antonio
Marques. Rio de Janeiro: Forense Universitaria, 1993. A partir daqui,
utilizarei a abreviagdo CFJ.
4 Kant. CFJ (B 165-166), p. 144-145: “Foi com as melhores intengdes que
aqueles que de bom grado quiseram dirigir para o fim tiltimo da huma-
nidade, ou seja, o moralmente-bom, todas as ocupagées dos homens, as
quais a disposigao interna da natureza os impele, consideraram o interes-
se pelo belo em geral um sinal de um bom carter moral. Nao sem razo
foi-Ihes todavia contestado por outros que apelam ao fato da experién-
cia, que virtuosos do gosto so ndo sé frequentemente mas até habitual-
mente vaidosos, caprichosos, entregues a perniciosas paixées, e talvez
pudessem ainda menos que outros reivindicar 0 mérito da afeigao a prin-
cipios morais; e assim parece que o sentimento pelo belo é nao apenas
especificamente (como também de fato) distinto do sentimento moral,
mas que ainda 0 interesse que se pode ligar aquele é dificilmente compa-
tivel com o interesse moral, de modo algum, porém, por afinidade inter-
na [...] Ora, na verdade concedo de bom grado que o interesse pelo belo
da arte (entre o qual conto também o uso artificial das belezas da natu-
reza para o adorno, por conseguinte para a vaidade) ndo fornece absolu-
tamente nenhuma prova de uma maneira de pensar afeigoada ao
moralmente-bom ou sequer inclinada a ele. Contrariamente, porém, afir-
mo que tomar um interesse imediato pela beleza da natureza (ndo sim-
plesmente ter gosto para ajuizd-la) é sempre sinal de uma boa alma; e que
se este interesse é habitual e liga-se de bom grado a contemplagao da
natureza, ele denota pelo menos uma disposi¢do de animo favordvel ao
sentimento moral” [grifos meus].
5 Cf. Schaper. Taste, Sublimity, and Genius: The Aesthetics of Nature and
Art. In: The Cambridge Companion to Kant, ed. Paul Guyer, Cambridge,
Mass.: Cambridge University Press, 1992, p. 386 [grifos meus].
6 Cf. Quarta capa do livro O belo auténomo, org. Rodrigo Duarte (Belo
Horizonte: Ed. UFMG, 1997), na qual Benedito Nunes escreveu: “No
sentido lato da palavra, [a Estética] existiu desde a Antiguidade greco-
romana, mas no sentido estrito, que ainda Ihe conferimos, de conheci-
mento do belo artistico, nem tedrico nem pratico, ao qual Kant negaria
o titulo de ciéncia, seu bergo foi a época moderna.”
7 Nunes, B. Introdugao a filosofia da arte. Sao Paulo: Atica, 1989, p. 10.
8 Cf. Terra, R. Duas introdugées @ critica do juizo. Sio Paulo: Tluminuras,
1995.
* Cf. Allison. The Sublime. In: Kant’s Theory of Taste..., p. 337: “Em seu
[de Kant] modo de ver, esse [cardter estético] fica necessariamente com-
prometido se qualquer consideragao sobre a finalidade ou perfeigdo do
OS FILOSOFOS E A ARTE 75
objeto figurar como parte da base da complacéncia. Isso é muito mais
dificil de impedir, no entanto, se 0 objeto for um produto da arte do que
da natureza.”
10 Kant estava t4o convicto de incluir a CFJ no seu sistema transcendental
que, apesar de ter defendido a especificidade e diferenca irredutivel da
faculdade do juizo frente as demais faculdades (entendimento ou razio),
adota o fio condutor das categorias para a apresentacao do juizo de
gosto. Nos quatro momentos da Analitica do Belo, Kant examinar4: no
primeiro, da qualidade, o desinteresse; no da quantidade, a universalida-
de subjetiva; no terceiro, da relacao, a finalidade sem fim; e finalmente,
no quarto momento, da modalidade, a necessidade exemplar.
11 Cf, Allison. Fine Arts and Genius, op. cit., p. 271: “Além do tratamento
dos jufzos estético e teleolégico numa mesma obra, talvez o traco mais
estranho da CFJ, pelo menos para um leitor pés-hegeliano, para quem
‘Estética’ ¢ ‘Filosofia da Arte’ sao sindnimos virtuais, seja o fato de que
apenas muito préximo do final da porgao tratando do juizo estético
(para ser exato, no parégrafo 43) que Kant se volta para o t6pico das
Belas Artes.”
12 Idem. Op. cit., p. 273.
13 Idem. Op. cit., p. 274.
14 Kant. CFJ (B 174), p. 149.
15 Allison. Op. cit., p. 273: “Arte [...] € concebida como um produto da
intengdo e habilidade humana consciente.” [grifo meu]
16 Cf. Kant. CFJ (B 174), p. 149.
17 Idem. Op. cit. (B 61), p. 82.
18 Idem. Op. cit. (B 165-166), p. 144-145.
19 Idem. Op. cit. Cf. nota 4.
20 Idem. Op. cit. (B 175), p. 150.
21 Idem.
22 Allison. Op. cit., p. 273.
23 Kant definiu os sentimentos estéticos do belo e do sublime como senti-
mentos da reflexdo. Foi dessa maneira (inédita, diga-se de passagem) que
ele garantiu a universalidade do jufzo de gosto, ao mesmo tempo,
distinguindo-se das duas tendéncias estéticas que estavam em vigéncia
em sua época: de um lado, a empirista, sensualista, para a qual 0 gosto
seria proveniente exclusivamente da sensagao; de outro, a racionalista,
intelectualista, para a qual o belo seria um conceito derivado de outros,
como a perfei¢ao, a harmonia ou a simetria.
24 Cf. a atualidade da Estética de Kant, ver, sobretudo, o livro de Thierry de
Duve, Kant after Duchamp. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1999.
25 Kant. CFJ (B 177), p. 151.
26 Idem. Op. cit., p. 150.
27 Idem. Op. cit. (B 178), p. 151.
28 Idem. Ibidem.
76 Virginia Figueiredo
29 Idem. Op. cit. (B 10), p. 52.
30 Idem. Op. cit. (B 178), p. 151.
31 Idem. Op. cit. (B 179), p. 151.
32 Idem. Op. cit. (B 179), p. 151.
33 Allison. Op. cit., p. 274.
34 Kant. CFJ (B 179), p. 152, grifo meu.
35 Cf. Allison. Op. cit., p. 275.
36 Idem. Op. cit., p. 276-277.
37 Kant. CFJ (nota B 61), p. 82.
38 Idem. Op. cit. (B 179), p. 152.
39 Idem. Op. cit. (B 29), p. 62. Trata-se de uma passagem do importante
§ 9, que nos propée um problema (“‘se no juizo de gosto o sentimento de
prazer precede o ajuizamento do objeto ou se este ajuizamento precede o
prazer”) cuja solugao, segundo o proprio Kant, constituiria “a chave da
critica de gosto”: “Este ajuizamento simplesmente subjetivo (estético) do
objeto ou da representagao, pela qual ele é dado, precede, pois, o prazer
no mesmo objeto e € o fundamento deste prazer na harmonia das facul-
dades do conhecimento; mas esta validade subjetiva universal da compla-
céncia, que ligamos A representago do objeto que denominamos belo,
funda-se unicamente sobre aquela universalidade das condicées subjeti-
vas do ajuizamento dos objetos.”
40 Cf. referéncia ja feita nas notas 4 e 5 deste texto: Kant. CFJ (B 165-166),
p. 144-145.
41 Kant. CFJ (B 179), p. 152.
42 Idem. Op. cit.(B 61), p. 82.
43 Kant. Primeira Introdugao, IX, 42. In: Terra. Op. cit., p. 72: “Encon-
tramos, porém, entre os produtos da natureza, géneros particulares e
muito extensos que contém em si mesmos uma tal vinculacao das causas
eficientes, que em seu fundamento temos de colocar 0 conceito de um
fim, mesmo se quisermos instaurar apenas experiéncia, isto €, observacao
segundo um principio adequado a sua possibilidade interna.”
44 Kant. CFJ (B 286), p. 213.
45 Cf. Allison. Op. cit., p. 277-278.
46Lébrun, G. Sobre Kant. Trad. Rubens Torres Filho, S40 Paulo:
Iuminuras, 1993. Seria longo demais para os limites deste texto acompa-
nhar o argumento inteiro de Lébrun que nao tem nada de trivial como
pode parecer pelo modo como citei o titulo do seu ensaio. Lébrun, alias,
como Allison, reconhece que uma discussio importante com o Hume
dos Didlogos sobre a religiao natural ecoa o tempo todo na CF] e que, s6
nesta obra, Kant teria encontrado uma “outra base [...] para 0 conceito
de théos” (p. 90). Mas, discordando de Allison, para quem a CFJ viria
ainda resolver um problema epistemoldgico, Lébrun continua com estas
palavras que cito a seguir e que, a meu ver, pressentem a posteridade da
CEJ: “[Na CFJ] é um outro kantismo que se delineia. Um kantismo do
OS FILOSOFOS E A ARTE 7
qual a epistemologia nao é mais sendo 0 preambulo. Um kantismo parao
qual o suprassensivel € uma linha de horizonte de tracado cheio (e nio
mais a sombra, ainda muito abstrata, de nossa finitude) — um além
impenetravel, sem dtivida, mas somente para quem teima em viver na
nostalgia da thedria e recusa-se a compreender que o conhecimento est4
longe de medir nosso poder de pensar. Pensar é algo bem diferente de
determinar objetos naturais: 0 estudo do juizo reflexionante, demons-
trando isso, libera-nos do ponto de vista te6rico e dispde-nos, portanto, a
reconsiderar a obra critica” (p. 90-91, grifos meus).
47 Allison. Op. cit., p. 278.
48 Idem. Op. cit., p. 278-279.
49 Cf. Lebrun. Op. cit., p. 84.
50 Cf. Allison. Op. cit., p. 278.
$1 AGOSTINHO. Cidade de Deus, Livro XII. Apud ARENDT, H. “Que éa
liberdade?” In: Entre o passado e 0 futuro. Trad. de Mauro Barbosa. Sio
Paulo: Perspectiva, 2000, p. 216.
52 Arendt, H. Op. cit., p. 215-216.
53 Deleuze, G. “LIdée de génese dans |’Esthétique de Kant”. In: Revue
d'Esthétique, 1963, p. 131-132.
BIBLIOGRAFIA
ALLISON, Henry. E. Kant’s Theory of Taste: a Reading of the Critique of
Aesthetic Judgment. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
DE DUVE, Thierry. “Kant depois de Duchamp”. Trad. Andrew Stockwell. In:
Revista do Mestrado em Historia da Arte, EBA, UFR], v. 5, 2° sem. 1998.
DELEUZE, Gilles. Para ler Kant. Trad. Sonia Dantas Guimaries. Rio de
Janeiro: Francisco Alves, 1976.
DUARTE, Rodrigo. (org.) Belo, sublime e Kant. Belo Horizonte: Ed.
UFMG, 1998.
FIGUEIREDO, Virginia. Os trés espectros de Kant. In: O que nos faz pensar?
Cadernos do Departamento de Filosofia PUC-RJ, n. 18, set. 2004.
KANT, Immanuel. Critica da faculdade do juizo. Trad. Valério Rohden e
Antonio Marques. Rio de Janeiro: Forense Universitaria, 1993.
LEBRUN, Gerard. Sobre Kant. Org. e trad. Rubens Torres Filho. Sao Paulo:
Iluminuras, Edusp, 1993.
PARRET, Herman. (org.) Kants Asthetik — Kant’s Aesthetics — L'Esthétique
de Kant. Berlim/Nova York: Walter de Gruyter, 1998.
ROHDEN, Valério. (org.) 200 anos da critica da faculdade do juizo de
Kant. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 1992.
73 Virginia Figueiredo
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Pink Noises - Women On Electronic Music and Sound - Tara Rodgers - 2006 - Anna's ArchiveDocument344 pagesPink Noises - Women On Electronic Music and Sound - Tara Rodgers - 2006 - Anna's ArchiveMel OliveiraNo ratings yet
- Curator The Museum Journal - 2023 - ScarsoDocument17 pagesCurator The Museum Journal - 2023 - ScarsoMel OliveiraNo ratings yet
- AVELAR, Rômulo. O Avesso Da Cena.Document26 pagesAVELAR, Rômulo. O Avesso Da Cena.Mel OliveiraNo ratings yet
- Tempo-Do-Agora (Jetztzeit), História Do Tempo Presente e Guerra Do ContestadoDocument40 pagesTempo-Do-Agora (Jetztzeit), História Do Tempo Presente e Guerra Do ContestadoMel OliveiraNo ratings yet
- Flusser Texto ImagemDocument4 pagesFlusser Texto ImagemMel OliveiraNo ratings yet
- Realismo e ImpressionismoDocument44 pagesRealismo e ImpressionismoMel OliveiraNo ratings yet
- RUBIM Albino - Tristes TradiçõesDocument14 pagesRUBIM Albino - Tristes TradiçõesMel OliveiraNo ratings yet
- Pos Impressionismo o Simbolismo e A Arte NovaDocument23 pagesPos Impressionismo o Simbolismo e A Arte NovaMel OliveiraNo ratings yet
- Tx6 Legado Da Semana de 22Document12 pagesTx6 Legado Da Semana de 22Mel OliveiraNo ratings yet
- SciELO - Brasil - O Patrimonialismo em Faoro e Weber e A Sociologia Brasileira O Patrimonialismo emDocument2 pagesSciELO - Brasil - O Patrimonialismo em Faoro e Weber e A Sociologia Brasileira O Patrimonialismo emMel OliveiraNo ratings yet
- Formacao Da Literatura BrasileiraDocument28 pagesFormacao Da Literatura BrasileiraMel OliveiraNo ratings yet
- Jaeger, W. - Homero Como Educador (Paideia. A Formação Do Homem Grego)Document15 pagesJaeger, W. - Homero Como Educador (Paideia. A Formação Do Homem Grego)Mel OliveiraNo ratings yet
- Reicher, Maria-O Que e Estetica FilosoficaDocument30 pagesReicher, Maria-O Que e Estetica FilosoficaMel OliveiraNo ratings yet
- Sousa, Eudoro. - A Essência Da Tragédia (In Aristóteles. Poética)Document22 pagesSousa, Eudoro. - A Essência Da Tragédia (In Aristóteles. Poética)Mel OliveiraNo ratings yet
- Dickie, G. - Introdução À Estética - Teoria Da Beleza - PlatãoDocument4 pagesDickie, G. - Introdução À Estética - Teoria Da Beleza - PlatãoMel OliveiraNo ratings yet
- Janson Renascimento Italia XVDocument21 pagesJanson Renascimento Italia XVMel OliveiraNo ratings yet
- Janson Alto Renascimento Na Itália História Da ArteDocument31 pagesJanson Alto Renascimento Na Itália História Da ArteMel OliveiraNo ratings yet