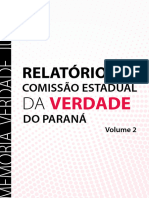Professional Documents
Culture Documents
Texto Wilma Peres Parte 4
Texto Wilma Peres Parte 4
Uploaded by
Carinna Almeida0 ratings0% found this document useful (0 votes)
11 views20 pagesOriginal Title
Texto Wilma Peres parte 4
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
11 views20 pagesTexto Wilma Peres Parte 4
Texto Wilma Peres Parte 4
Uploaded by
Carinna AlmeidaCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF or read online from Scribd
You are on page 1of 20
A INDEPENDENCIA NA HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA 99
10. Parte significativa dessa produgao desenvolvia-se tendo o marxismo
por campo de referéncia ou dialogando criticamente com seus pressupos-
tos. Nao devemos esquecer também o prestigio adquirido desde a década
de 1960 pelas versdes keynesianas da teoria do desenvolvimento, que con-
feriam grande importancia a esfera do Estado, como agente privilegiado no
fomento de um projeto nacional. Estas foram razdes importantes, embora
certamente nao exclusivas, pelas quais os temas de histéria econémica ga-
nhavam no periodo grande visibilidade, atribuindo-se ao seu esclarecimen-
to a capacidade de iluminar aspectos fundamentais da dinamica politica.
E indispensével mencionar aqui, embora nao se encontre rigorosamen-
te no campo da produgao historiogr4fica, uma obra que se inseriu de forma
vigorosa na encruzilhada.desses diversos caminhos: 0 ensaio notével com
que Florestan Fernandes fez a ponte entre as tradigdes do ensaismo ¢ as
da academia, nas quais medrara de forma persistente a idéia da Revo-
lugdo.'"°
Dos varios significados atribuidos ao conceito de Revolugdo Burguesa
no pensamento marxista, Florestan reteve o de processo de longa dura-
go, configurando a construgao da ordem social e politica indispensavel ao
desenvolvimento do capitalismo. Essa perspectiva aproximava-o da ver-
tente gramsciana, com a qual compartilhava também a idéia de Revolucio
Passiva, ou Revolugao “pelo alto”.
Encarando a peculiaridade da formagao social brasileira, Florestan Fer-
nandes entendeu, nesse livro, a Revolug&o Burguesa no Brasil como ciclo
JA cumprido, a despeito de resultar em um pafs reiteradamente autoritario,
que exclufa a maioria de seu povo do mercado e da vida politica.
No brilhante capftulo dedicado & Independéncia, dos mais refinados exer-
‘cicios tedricos da ciéncia social brasileira, ecoava a pol@mica que empol-
gava 0s historiadores na forma de um esforco herctileo para dar conta, de
forma dialética, dos fermentos de mudanca presentes na conjuntura politi-
ca da Independéncia ¢ dos movimentos empreendidos pelas forgas conser
vadoras para reinventar as idéias ¢ as praticas em que se expressava a domi-
nagao politica, impedindo que a Revolugao se realizasse em sua plenitude
™ No Rio de Janciro se produziram obras fundamentais sobre a administragao colonial e sobre
asatividades comesciais e financeiras da Corte. Ver Buldlia Maria Lahmeyer Lobo. Adminis
tragio colonial luso-espankola nas Américas, Rio de Janeiro: Cia Brasileira de Artes Gréficas,
1952 ¢ Histéria do Rio de Janeiro (do capital comercial ao capital industrial e financeiro). Rio de
Janciro: IBMEC 1978; Histéria da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IBMEC,
1977, Maria Barbara Levy Levy. Historia financeira do Brasil colonial. Rio de Jancito: 1BMEC,
1979, Sobre a produgio para o mercado interno, ver Maria Yedda Leite Linhares. Historia da
agricultura brasileira: combates ¢controvérsias. Sao Paulo: Brasiliense, 1981.
°° Florestan Fernandes. A revolugao burguesa no Brasil, Rio de Jancito: Zahar, 1974, Sobre
Florestan Fernandes, ver Maria Arminda do Nascimento Arruda & Sylvia Gemignani Garcia.
Florestan Fernandes, mestre de ociologia moderna. Brasilia: Paralelo 15, 2003.
100 WILMA PERES COSTA
transformadora,"" Assumindo a Independéncia como etapa necessiria da
Revolugiio Burguesa, Florestan aproximava-se da posi¢io defendida por
Fernando Novais € distanciava-se tanto da jnterpretagao de Maria Odila
como da de Emilia Viotti ao reafirmar a positividade do liberalisme como
horizonte ideolégico © utépico na constructo do Estado brasileiro.
Em diregdo oposta emergia, j4 na propria década de 1970, uma linha
frontalmente critica aos USOS da idéia de Revolugio na historiografia brasi-
leita. Nessa visio, a idéia de Revolugaio aparecia como mito a ser descons-
truido, como estratégia reiteradamente utilizada pelas correntes conserva-
doras para encobrir 0 autoritarismo entranhado da sociedade brasileira. A
farsa de uma Revolugio que encobria uma contra-revolucao (0 golpe de
1964) projetava-se como insight para desqualificar, radicalmente, os marcos
tidos por tradicionais da Hist6ria Politica. Centrando interesse na hist6ria
social, os adeptos dessa corrente tendiam a se afastar progressivamente
dos temas caros @ Hist6ria Econémica.!”2 Em outros citculos, entretanto, 2
histéria econémica vivia perfodo de grande produtividade, parte do qual
trouxe contribuigées relevantes para ‘a Historiografia da Independéncia.
A critica ¢ a revisao dos paradigmas se desenvolveu em campo temati-
co demarcado pelos trabalhos de Caio Prado Junior ¢ pelos estudos produ-
zidos pela Ccpal, particularmente 0s de Celso Furtado." O debate com 4
interpretagao furtadiana encontrou sua forma pioncira nos trabalhos de
José Jobson Arruda, que, mediante cuidadosa pesquisa empirica, princi-
palmente das Balangas de Comércio, combateu com &xito a idéia de uma
estagnagio econémica na conjuntura da emancipacao politica.'*
_
111 Florestan Fernandes. Op. cit., capitulo 3.
v2 Flees uma das matrizes da critica ao proprio campo da historia politica c da emergéncia de
esforgos no sentido de uma “histéria dos vencidos”, com forte acento na experiencia das
classes aubalternas ¢ dos excluidos sociais. Paralelamente, desenvolvia-se também a erftica
“jos eatudos sobre o liberalism, feitos sob a égide do ‘mangismo. Ver Maria Stella Martins
Faoceeni. Ae voltas de um parafuso”, pp. 7-20: sobre ecricie, do conceito de Revolugio ver
Carlos Alberto Vesentini. “A fulguragio recortente”, PP- 21-34, ambos em Tudo ¢ Histéria,
Cademos de Pesquisa, 2. Sao Paulo: Brasiliense, 1978.
113 Foca vertente foi importante também para foonecet umsnaico DARA comparagio das diver-
ses experigneias latino-americanas. Para um trabalho cepalino de grande influéncia para a
snilige das independéncias latino-americanas ver O- ‘Gunkel & Pedro Paz, op. cit. Para uma
visto comparada ver Celso Furtado, La economia Tatinoamericana — formacién historica y
‘problemas contemporsnens. México: Siglo XXL 1971. Referéncia importante nesse debate foi
Fees Jado Manuel Cardoso de Mello, onde este se vale de Caio Prado Jtinior para
«horse a exitiea do pensamento cepalino, Joie Manuel Cardoso de Mello. © capitalismo
cate Sto Paulo: Brasiliense, 1984. Especificamente sobre # Independéncia, ver Ronaldo
Mares dos Santos. O rascunko da nacio: formario, augee naam da econornia colonial. Dou-
aege, Campinas: Unicamp/instituto de Economia, 1985, Ver também o prosseguimento
Ga discussao em “Mercantilizagao, decadéncia & Gominéncia’ in: Tamas Smreesényi &J.R,
Capa, Historia econdnica do Perfodo Colonial Sio Paulo. Hucitec-Fapesp, 1996, pp. 67-77.
se Ay bases dessa discussio haviam sido langadas em sua tse de doutoramento de 1972, an-
ce ormente citada, Para um desenvolvimento esclarecedor veh J. Jobson Arruda, “A produ-
4 INDEPENDENGIA NA HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA 101
‘or outro lado, os trabalhos de pesquisa e os avancos teéricos tendiam a
por crescentemente em questiic as polaridades politicas apresentadas por
Caio Prado Junior, que opunham “fazendeiros” a “comerciantes” e, de
forma bastante linear, “nacionais” e “portugueses”. Os estudos tendiam a
criticar um acento, tido por excessivo, na dindmica exportadora ¢ chama-
va a atengo para o conhecimento insuficiente dos sctores mercantis, e da
produgSo agricola voltada para o mercado interno, particularmente nas re-
gides que se encontravam articuladas 20 mercado da Corte.
Um importante conjunto de investigagées, consolidadas em teses acadé-
micas, alargou 0 conhecimento sobre 0 mundo da economia e dos negécios,
esmiugando o jogo de interesses que se desenvolveu a partir do esta-
belecimento da Corte na América, contribuindo para esclarecer a dinami-
2 ccondmica e politica do processo de independéncia ¢ da construgio do
Estado Nacional..Os temas dos trabalhos incidiam sobre pontos-chave da
economia colonial no século XVIII e avangavam para a historia econdmi-
ca do século XIX. Todos eles se indagavam, de certa forma, sobre as con-
tnuidades e rupturas no plano da administragao ptiblica, das associagées
de interesses, da acumulagao de riqueza."
Muitos dos trabalhos que emergiram dessas indagagoes convergiam nao
apenas para a identificagdo de um dinamismo econémico muito maior na
conjuntura da Independéncia do que 0 suposto por Furtado, como na én-
fase insuficiente que teria sido atribuida até €ntao aos circuitos mercantis
internos, notadamente os ancorados na economia de abastecimento da
Corte ¢ a0 espago de articulagao de interesses que se descnvolviam a
sombra do Estado (cargos, tributag&o, contratos).'16
Se eee
sfoccon6micaja circulacdo, asfinangas ¢ as flutuagéesecondmicas”, in: Maria Beatriz Nizza da
Silva, O Império Luso Brasileiro, 1750-1822. Lisboa: Estampa, 1986, pp. 85-211
“ssa linha interpretativa ganhava forga, pot um lado, entre os trabalhos orientados por
Maria Odila da Silva Dias. As principais referéncias sio um ‘conjunto de trabalhos desenvol-
vido no final dos anos 1970, embora os dois tiltimos sé tenham sido publicados recente-
mente: Aleir Lenharo. Politica e negécios: 0 comercio de abastecimentos do Rio de Janeiro (1808-
18:1). Mestrado. Séo Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras c Ciéncias Humanas, Univers
dade de Sio Paulo, 1978; Lenita Menezes Martinho. Organizagiio do trabalho e relagies sociais
‘x0 interior das firmas comerciais do Rio de Janeiro na ‘brimeira metade do século XIX. Mestrado.
Sao Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciéncias Humanas, Universidade de Sao Paulo,
877; Riva Gorenstein. Enraizamento de intereses mercantis portugueses na regiao centro-sul do
Brasil, 1808-1822: uma contribuigéio ao estudo do processo de estruturagtio da sociedade de independén-
Gz, Sio Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciéncias Humanas, Universidade de Sao
Paulo, 1978, Destes, o trabalho de Lenharo se destaca pelo csforgo em delinear uma nova
Pesspectiva para a correlagao de forgas politicas no processo deindependéncia, tematizandoa
peculiaridade da insereao politica da capitania (provincia) de Sio Paulo,
“Wer Junia Ferreira Furtado. Homens de neghcio: a interiorixagao da metrépole e do comércio nas
Mss setecentistas. Doutorado. Sao Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciéncias Humanas,
Universidade de Sao Paulo, 1996. Paula Porta Santos Fernandes, Elites dirigentes € projeto
Seconal :a formazio de um corpo de funciondrias do Estado no Brasil. Doutorado, Sto Paulo.
Faculdade de Filosofia, Letras ¢ Ciéncias Humanas, Universidade de Si Paulo, 2000,
102, WILMA PERES COSTA
A pOLiTiIcsA COMO CONSTRUGAO?
o EsTADO
A inflexio notéria sofrida pela teméatica da Revolugao em meados dos
anos 1970 veio acompanhada por ume renovagao dos referenciais da his-
toria politica, tendéncia que s© aprofundou a partir do fim da ditadura mi-
litar, A necessidade de compreender os fundamentos mais profundes do
autoritarismo ¢ 4 complexidade do processo de redemocratizagao do Pais
foram alguns dos vetores importantes desse movimento, mas ele emergia
também de insatisfagdes que SC manifestavam 10 interior dos proprios
paradigmas tedricos em gue o debate estivera colocado nos anos 1970. O
fendmeno manifestou-se em parte pela jncorporagao de perspectivas que
advinham do campo da Ciéncia Politica. Exemplo disso foi 0 grande pres-
tigio, no campo do marxismo, das ane! ses inspiradas no pensamento de
Antonio Gramsci, pelo relevo que estas atribufam & especificidade da es-
fera politica; simultaneamente, operava-se @ reciclagem do paradigma
weberiano nas Teorias da Construgao do Estado,"”” matizado pela forte
influéncia do campo universitario norte-americano.
Na historiografia brasileira sobre © século XIX, um dos trabalhos mais
marcantes dessa safra foi a tese de doutoramento de José Murilo de Car-
valho,"® que explorava @ partir das Teorias da Construcas do Estado e da
Teoria das Elites, alguns dos temas caros & historiografia tradicional (a
relagdo entre a forma monarquica © @ manutengao da unidade politica do
Império Brasileiro, & comparagao entre 08 processos politicos 0a América
hispanica © na América portuguesa). A perspectiva da “construgio” do
Estado aparecia, NEsse momento, como uma via para ultrapassar dico-
tomias postas por UM debate classico do ensaismo politico prasileiro. Ero
uma das polaridades, representada pelo ensaio cléssico de Nestor Duarte,
sustentava-se que 4 reiterada precedéncia dos interesses privados, enrai-
zados no mundo agrario, sobre a esfera publica era um trago persistente da
organizagao social brasileira, posi¢ao representada pelo trabalho de Nes-
tor Duarte. No outro extremo a obra de Raimundo Faoro rornara-s¢ Uma
referéncia pela anfase atribuida & onipresenga, 20 Jongo da hist6ria brasi-
leira, de uma maquina estatal purocratizada € de um estamento que vivia
a sombra de seus interesses. Enraizada nas tradigdes ibéricas, cla se pet
11? Ver Charles Tilly. The Formation of National Sates in Western Burabe- Princeton: Princeton
University Press, 1975.
cit jipge de doutorado de José Muito de Carvalho, defendida na Universidade de Stanford
ee 1974, Elites and State Building ot ‘imperial Brasil, dew origem 2 dues publicagoes A
Gonstrugo da Ordem e Teatro de ‘Sombras, a Pottca Imperial, oust Sivulgagho brasileira se deu
go longo dos anos 1980.
A INDEPENDENGIA NA HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA 103
petuava na vida social ¢ politica brasileira sufocando a organizagao aut6-
noma da nacio.'"?
Buscando dar encaminhamento origin:
reposto, José Murilo de Carvalho recolocou uma antiga questao em novos
moldes. A questao, especialmente cara a Varnhagen, era a da unidade tet-
‘irotial e politica obtida pela América portuguesa no processo de emanci-
pacgdo politica vis-a-vis a fragmentagdo que veio a caracterizar a América
espanhola. O foco principal dessa diferenca — a possibilidade de conser-
var a unidade no processo de emancipacgao politica ¢ de defendé-la ante 2
longa quadra de pulsdes: centrifugas que a ela se seguiram, foi colocado
por José Murilo na formagao das elites intelectuais que conduziram a In-
dependéncia e os primeiros passos da formagiio do Estado Nacional. A
socializagio comum na Universidade de Coimbra, 0 predominio de uma
yisio forjada nos quadros da magistratura teria propiciado a essas elites
uma homogeneidade desconhecida em outros paises da América Ibérica,
gando-lhes uma visio de conjunto capaz de operar em oposigao &s violen-
tas foroas centrifugas emanadas principalmente dos grandes proprietarios
tettitoriais. Essa perspectiva de longa duracao, focada na idéia de conti-
nuidade no plano da “formacio das elites”, combinava-se com uma Ders-
pectiva de curta duragio, no plano da “eonstrugio do Estado”. Este nao
estava enraizado no passado colonial, produtor, sobretudo de pulsdes cen-
trifugas © desagregadoras, mas em um “processo de acumulagio primitiva
do poder” que teria se desenrolado a partir de 1837 © se completado em
4950.Na linha das Teorias da Construgko do Estado, José Murilo de
Carvalho apontava os aspectos extrativos e 0s processos que teriam con-
ferido eficdcia & consolidago do centro politico por sobre as pulsdes cen-
trffugas das elites regionais. Além disso, buscava reconstituir os principais
mecanismos de fomento de uma elite politica e de uma burocracia de Es-
tado capaz de fazer funcionar um sistema politico complexo, do qual a
Coroa ¢ o Poder Moderador constituiam a pcga-chave.
Em orientagio metodolégica distinta, mas também focalizando o tema
da consolidagao do centro politico, o trabalho de Ilmar Rohloff de Mattos
cornou-se outra referéncia marcante do debate sobre a construgao do Es-
tado brasileiro no século XIX. José Murilo de Carvalho associara @ unida-
de territorial brasileira & especificidade da socializagio de uma clite que
al a este enigma miiltiplas vezes
aaa
eaorganizagio politica nacional. Rio de Janeiro: CEN, 1939;
‘poder. Porto Alegre: Globo, 1959 (re-editada em versio
srpliada em 1972), Outra versio da do debate, desta feita na discussio do catiter patrimonial
qe astado ¢ do papel desempenhado pela Guarda Nacional, ver Fernando Uricoechea. 0
Misotauro Imperial. Rio de Jancito: Paze Terra, 1978.
José Mutilo de Carvalho, Elites and State Building in Imperial Braxil. Doutorado. Universida-
de de Stanford, 1974.
© Nestor Duarte. A ordem privada
Raymundo Faoro, Os donas do
104 WILMA PERES COSTA
precedia 0 Estado Nacional € presidia os passos iniciais de sua fundagao.
Em diregio distinta, Ilmar Rohloff de Mattos procurava entender a emer-
géncia dos agentes politicos 2 partir dos conflitos de interesses presentes
na provincia do Rio de Janeiro ¢ nos seus desdobramentos a partir do
proprio movimento de emancipagio politica. Nesse lugar politico priviie-
giado, por ter sido palco de um. desenvolvimento material ¢ de uma cultu-
ra politica peculiares, o autor encontra 4 formagdo simultanea do centro
politico e de sua classe dirigente. Ao estudar essa classe, valendo-se do
instrumental gramsciano, cle buscou conferir densidade historiografica a0
tema da luta de classes, explorando-o em suas interfaces econdmicas, so-
ciais, politicas ¢ culturais."
A analise de Rohloff de Mattos procurava estudar ao mesmo tempo as
dimensdes de continuidade entre as estrucuras que Se haviam institufdo no
Rio de Janeiro a partir da vinda da Corte € as situagGes novas que se desen-
volveram com a expansio da agricultura cafecira e sua inter-relacdo com 0
mundo dos negécios do Rio de Janeiro. A “recunhagem da moeda colonial”,
met&fora com que cle procura recobrir esse processo, indica 0 esforgo em dar
conta de amalgama do “velho” ¢ do “novo” no processo de Independéncia.
Visto da perspectiva da formagio de uma classe dirigente, 0 processo de cons-
trugao do Estado aparece distanciado da idéia de heranga ou legado ¢ real-
cado no seu contetido de invengao politica ¢ de construgao de instrumentos
de consenso ¢ de coergio. O trabalho reconstr6i, nesses tormos, a emergén-
cia ¢ a agio do “grupo saquarema”, micleo do Partido Conservador do Rio
de Janeiro, como processo de construgao de uma hegemonia, isto €, em
termos gramscianos, 2 capacidade de ultrapassar a mera preponderancia eco-
ndmica para produzir condigbes de diregéo intelectual moral.
TRAFICO NEGREIRO E CONSTRUGAO DO EsTADO
Ainda na perspectiva da construgio do Estado, mas de forma distinta
dos autores precedentes, Luiz Felipe de Alencastro veio a propor novo
referencial espacial ¢ analitico para o entendimento do processo de eman-
cipagdo politica € da formagio do Estado brasileiro. Sua andlise estabele-
cou uma fecunda interlocugio critica com a interpretagao furtadiana e com
todas as outras que visualizaram, na crisc do Sistema Colonial, uma con-
versio automatica do Brasil independente ao campo da hegemonia inglesa.
‘A caracteristica principal dessa interpretagao foi a de ter colocado os
circuitos do trdfico negreiro (¢ os interesses aglutinados em toro dele) no
ceme do entendimento da scparagao politica e da estruturagio do Estado
EE Ee
12° Timer Robloff de Mattos. 0 sempo soquarema. Doutorado. Sao Paulo: Faculdade de Filosofia,
Tiers c Cstenties Fimmoenas, Universidade de Sto Paulo, 1985.
A INDEPENDENGIA NA HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA 105
brasileiro que a cla se seguiu. A pega estratégica para 0 entendimento do
processo econdmico € politico da emancipagaio repousa, para 0 autor, no
peso atribuido & autonomizacao dos interesses ligados ao trafico africano
ante os controles metropolitanos © os do emergente Estado brasileiro in-
dependente. Perseguindo ume tendéncia de autonomizagio da matriz es-
pacial afro-americana presente desde o século XVII, esse autor tem de-
monstrado a importancia de se levar em consideragao as teias de interesse
que sc desenvolvem cntre as Areas de produgac escravista do territério ame-
ticano ¢ as areas de fornecimento de escravos da costa africana. A persistén-
cia e cfescente autonomia dessa teia de interesses, cuja inteligibilidade s6
pode ser apreendida a partir do Império portugués no seu conjunto, € con-
siderada como indispensavel para compreender a forga e a eficdcia com
que atuaram, na conjuntura da Independéncia, os grupos interessados na
reiteragio do tréfico e da escraviddo. A agdo dessas forgas (capazes mes-
mo de fazer face, por décadas, @ pressao inglesa) ¢ @ compreensao das
bases materiais em que se assentava seria o vetot mais relevante para a
unificagao territorial brasileira. Assim, cle se diferencia do debate em cur
so sobre as dimensdes “internas” ou “externas” das transformagdes em
curso, introduzindo uma espécie de “fronteira invisivel” na formacao do
Estado Nacional, onde a extraterritorialidade do mercado de trabalho apa-
recia como elemento estratégico do acordo das elites em torno da monar-
quia unitdria. Essa andlise introduz também uma varidvel probleméatica para
oesquema interpretativo de Fernando Novais, para quem 9 controle metro-
politano do trdfico era elemento definidor do Antigo Sistema Colonial.
Para Alencastro, as raizes do Império Brasileiro do século XIX mergu-
jhavam em um subsistema encravado no interior do Império Portugués.
Nesse sentido, o Estado Monérquico tinha viabilidade na medida em que
pudesse manter ¢ defender sua matriz espacial extraterritorial. Dessc modo
ele se diferencia tanto da idéia de “persisténcia” colonial, na forma da
“interiorizagio da metropole”, quanto da “crise do sistema colonial” como
formulada classicamente por Fernando Novais.'*
ee
12 Luiz Felipe de de Alencastro, La trite négritre ex Punité nationale brésilienne. Revue
Francaise @ Histoire d’AuuretMer. Pati,» 244]5, 1979; 0 fardo dos bacharéis, owas Estudos
Cebrap, Sao Paulo, 19, 1987; Le comtnerce des vioants: trait desclaves et “pax lusitana” dans
PAdlentique Sud, Doutoramento. Paris: Univ, de Paris X, 1986, Ver também a exposigao de
sua posigio em José Geraldo Vinci de Moraes & José Marcio Rego, Gomversas com historiado-
ves Drasifeiras. Sao Paulo: Bd. 34, 2002, pp. 239-62, Mais reeentemente 0 auiot Et avangado
arise do period colonial, enfatizando a importincia da superagio de matrizes espaciais
fides pot anacrdnicas, que pressupunham para 0 conjunto da ‘América portuguesa, uma
aaridoidade que s6 seria visivel na segunda metade do século XVIII O trato dos viventes.
eer: Companhia das Letras, 2000, Nesse easo, referencial importante é a incorpora-
cao e desenvolvimento das teses de C. R. Boxer. 0 Império Colonial Portugués (1415-1825).
Fsbo ad. [1969] e dade de ouro do Brasil. Dores de erescimento de una ‘sociedade colonial. 1*
cd. (brasileira). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.
106 WILMA PBRES COSTA
Novos DESAFIOS DA HISTORIA ECONOMICA?
DESCONSTRUINDO A CRISE DO ANTIGO SISTEMA COLONIAL
Procurando entender as razdes do crescente prestigio da histéria politi-
== nos anos 1980, Maria Helena Capelato jndicou os movimentos que se
desenrolavam na sociedade brasileira nesse perfodo, coro importantes
serores dessa mudanga de enfoque. Segundo sua avaliagio, “Nos anos
1960-1970, 0 deslocamento da revolugao para as rebelides polfticas ¢ cul-
corsis produziu um tipo de revisto historiogréfica que acabou privilegian-
do os estudos sobre 08 movimentos sociais, grupos minoritérios e cultura.
Nos anos 1980, a substituigio da revolugao pela democracia fez que as
arengdes se voltassem para a historia politica, Se o tema da revolugao
sascitou um estudo aprofundado das estruturas © relagdes econémicas ©
sociais, 0 tema da democracia pressupoe conhecimento mais aprofundado
do mundo da politica”."* A mengao € esclarecedora, mas 4 sua ultima
parte deve ser incorporada com ressalvas, pois nao parece ter havido uma
Simples alternancia do foco da cconomia para o da politica. O breve ma
amento expresso nas paginas anteriores é bem indicativo disso, j4 que
‘os estudos sobre a dinamica da vida material como jluminadora da esfera
dos interesses continuaram a ser produzidos com abundancia ¢ qualidade.
Ao longo da década de 1990, 0 debate econdmico ganhou novo alento
a partir de um conjunto de estudos que se jrradiava do Rio de Janeiro,
enfocando as transformagoes econémicas € sociais de final do século XVIIE
¢ das primeiras décadas do século XIX. Esses estudos, que s¢ caracteri-
zam por sua coeréncia teérica € rigor empirico, puscavam polemizar tanto
com o paradigma cepalino (Furtado), como com @ interpretagao hist6rica
sesociada A lideranga intelectual caiopradiana, especialmente na vertente
associada a0 trabalho de Fernando Novais. O cerne da critica assentava-
se na énfase, tida por excessiva, que as tradigées caiopradiana © cepalina
haviam depositado no carater extrovertido da economia colonial ¢, con-
seqiientemente, @ centralidade que haviam atribuido 4 idéia de Crise do
Sistema Colonial como vetor explicativo da emancipagao politica.’ Re-
visitando algumas vertentes do debate que se configurara em 1972, as
pesquisas dessa linha procuraram chamar a atencao para @ importancia da
> Maria Helena Rolim Capelato. Historia Politica, Estudos Historices, 16, 1996, Historiografia,
pp. 161-75.
.< FP: bAthos marcantes dessa tendéncia sto LR. Fragoso. Homens de grossa aventirt: oh,
rae pet lierarauia na priga mercanil do Rig delanciro, (1790-1830). Rio de Jancito: Arquivo
Nacional, 1992; J- L. R. Fragoso & Manolo Florentino. 0 arcatsmo como projet. Mercado
ailéntico, sociedade agraria ¢ elite mercantil no Rio de Janeiro (1790-1840). Rio de Janeiro:
Diadorim, 1993.
A INDEPENDENCIA NA HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA, 107
dimensio endégena (interna 4 Colénia) da acumulagao de capital, bem
como para a ancestralidade do enraizamento, no territério da América por-
tuguesa, de poderosos interesses mercantis, envolvendo principalmente o
comércio de abastecimento e o trdfico de escravos e 0 seu desdobramento
em tedes de longo alcance." Essa énfase vinha convergir em parte para
os resultados apresentados pela linha desenvolvida pelos orientandos de
Maria Odila da Silva Dias, combatendo a idéia de uma polarizagao entre
interesses “agrarios” e “mercantis” (¢ em decorréncia, “brasileiros” © “por-
tugueses”). Vistos desse modo, os interesses mercantis nao poderiam scr
pensados como estando “em oposig&io” aos grandes proprictarios territo-
tiais, nem como “externos” & colénia.
A notavel contribuicdo que essas pesquisas trouxeram para a compre-
ensio da dinamica da vida material no processo de independéncia expres-
sou-se em uma inspiracdo para novos estudos, que investigassem a impor-
tincia eo vigor das formas internas de acumulagao nas distintas partes
do Brasil." No que se refere & indagacao que tem fornecido a linha de
nossa reflexao historiografica, as permanéncias e rupturas no processo de
emancipacao politica, os desdobramentos dessa interpretacao no campo
da histéria politica encaminharam-se decididamente para o plano da conti-
nuidade: embora dotados de capacidade de acumulagio endégena, a agao
desses poderosos grupos de interesse durante 0 processo de emancipacao
politica, teria se inclinado decididamente para o prolongamento dos valo-
tes ¢ das priticas politicas arcaicas na dinamica do Brasil independente.
Enfatizando fortemente as permanéncias (¢ mesmo as re-invengdes do
atraso), alguns membros dessa corrente sublinham uma continuidade dos
elementos ¢ da légica do Antigo Regime, ao longo do século XIX, esten-
dendo-se pelo menos até 1856,
Em exposigio recente de seus pressupostos de investigacao, 0 questio-
namento do valor heuristico da polaridade metrépole/colénia veio a ad-
quitir uma coloragio extremada: a prépria negacao de uma especificidade
do estatuto colonial, diluida em uma perspectiva de conjunto do Império
portugués. Nessa perspectiva, subsumidos a idéia de “economia do bem
comum”, os mecanismos politicos de concentragao de riqueza (monopé-
25 Manolo Florentino, Em costas negras: uma histéria do trfico de escravas entre a Africa e 0 Rio de
Janeiro, séculos XVII e XIX. So Paulo: Companhia das Letras, 1997. Para uma interlocugo
critica ver, José Jobson “O sentido da Colénia. Revisitando a crise do antigo sistema colonial
no Brasil (1780-1830)”, in: José Tengarrinha (org.). Histéria de Portugal. Bauru, SP-Portugal:
Edusc-Edunesp-Instituto Camdes, 2000, pp. 167-87,
"S Um painel sintético das abordagens dessa linha de re-interpretacio da dinamica colonial do
século XVIII se encontra em Joo Fragoso; Maria Fernanda Baptista Bicalho & Maria de
Fatima Silva Gouvéa (org,). O Antigo Regime nos trépicos:a dindmica imperial portaguesa (séculos
XVE-XVIH). Rio de Janeiro: Civilizagao Brasileira, 2001,
108 WILMA PERES COSTA
lios, mercés), as redes clientelisticas € os afranjos institucionais sao pensa-
dos como comuns a0 conjunto do Império, estendendo para a América
portuguesa hipdteses de investigag3o que tém estado muito ativas na his-
toriografia atualmente produzida em Portugal.'?”
O ponto é evidentemente polémico, e tem suscitado interpretagdes di-
vergentes. Dentre estas é relevante apontar os trabalhos que buscam re-
pensar as bases materiais dos conflitos politicos da era da Independéncia.'*
O ESPAGO PUBLIGO: AMPLIAGAO DA ESFERA DA POLITICA
Por diversos caminhos, 0 jnteresse renovado pela historia politica tem
suscitado também o afastamento de interpretagées lineares das determi-
nagdes econémicas, em favor de esforgos alentados de pesquisa empfrica
gue permitam qualificar 0 campo contraditério dos interesses, dos confli-
tos politicos e das linguagens em que se expressatam. O desprestigio das
versdes lineares ¢ mecanicistas do marxismo teve, nesse campo, efeito
salutar, no sentido em que 0 universo dos fatos politicos passava a Ser
pensado como objeto dotado de luz propria, Ao mesmo tempo, as relagdes
ae
127 Referéncia bésica desse debate tem sido o trabalho do historiador portugues Valentim
Alexandse, Os sentidos do Império, que rejcita a andlise de Femando Novais (ede toda a
finhagem que remonta a Caio Prado) com base em ampla pesquisa documencal. Igualmen-
te importante tem sido a reperoussio dos estudos sobre a ‘administracio do Império portu-
gqués como os de Maria Catarina Santos & Anténio Manue! Hespanha. “Os poderes num
Tmpério Ocedinico”, in: José Mattoso (dir), Ant6nio Manve! Hespanha (coord). Historia de
Pongal. O Antigo Regime. Lisboa: Estampa, 1993, pp. 395-413, Ver também Jorge Miguel
Viens cadrcira. Estrutura industrial eo mercado colonial, Portugal ¢ Brasil 1780-1830. Lisbo
Difel, 1994 © Os homens de negocio da praca de Lishoa de Pombal ao vintism? (1755-1822):
diferencagao, repraduga eidentificagao de wm grupo social. Doutorado, Universidade Nova de
Chasen 1995, Os pressupostos do grupo se encontram explicitados em Joke Fragoso; Maria
‘de Pasiona de Silva Gouvéa & Maria Fernanda Baptista Biealho, Bases da materialidade ¢ da
governabilidade no TImpéric: uma leitura do Brasil Colonia) Penélope, Lisboa, 2000, n° 23.
aoeea Remanda B. Bicalho.A cidade ¢ 0 Império. O Rio de Janeiro no stvio XVII Rio de
Janciro: Civilizagao Brasileira, 2003; Maria de Fatima S. Gouyés, Redes de poder na Amé-
Tica poreuguese: 0 caso dos homens bons do Rio de Janeiro, 1790-1822, Revista Brasifeira de
Historia, vol. 18, n° 36, 1998, pp. 297-330.
128 Bm perspectiva distinta, cnfatizando os conflites de interesses © SY expresso na esfera
politica ver Cecilia Helena de Salles Oliveira, A asticia bern), ado, trabalho que focaliza os
Poe ye ceondmicos ¢ suas distintas formas de traducio politica, com forte énfase nos
averjaoe entre ae facgdes © nas descontinuidades ¢ também Emilio Carlos Rodriguez
Lopen, Um ectudo sobre manifestaiespoliicas na Cortedo Rio de Janeiro, 1808/1822, Mestrado.
Sig Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras ¢ Cigneias Humans, Universidade de Sao Paulo,
3000, Ainda no campo do conflito ver Gladys Sabina Ribeiro, A liberdade em construed;
a esndadenacionalconflitesantiluitanas no Primeiro Reinado, Rio de Janeiro: Relume Dumaré,
iron c Gladys Sabina Ribeiro. As noites das garrafadas: uma histbria entre 9S dos
conflitos antilusitanos e raciais na Corte do Rio de Janeiro. ‘Luso-Brazilian Review, 37:2
iaverne), pp. 39-74. Ver também ‘Théo Lobarinhas Pifieito. “Os Simples Gomissdrias”:
neqoriantesepoltieas no Brasil Império, Doutorado, Niter6i Universidade Federal Fluminense,
2002.
A INDEPENDENGIA NA HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA 109
entre a esfera da vida material e as da dinamica politica deixavam de ser
concebidas como dadas, para ser encaradas como problemas de investiga-
¢ao, a serem tratados no plano da pesquisa documental e da singularidade
das experiéncias histéricas.'*
O esforgo de preciso ¢ de qualificagio dos objetos tem-se manifestado
vigorosamente, no caso da historiografia da Independéncia, na notavel
contribuigio que os estudos de histéria cultural tém oferecido para a am-
pliagio do escopo do que tradicionalmente se entendia como “esfera da
politica”, € que se confinava 20 campo do exercicio direto do poder ou da
representacio politica institucionalizada. Inspirando-se em parte no vigor
que estes temas vém assumindo na historiografia européia, tém-se multi-
plicado os estudos que se dedicam a compreender o espaco do exercicio
da politica como construgio da esfera ptiblica, fazendo emergir 0 conteti-
do politico complexe contido na esfera da cultura. Estudos sobre os inte-
lectuais ¢ suas carreiras, sobre a produgio e circulagao de livros € jornais,
sobre as conexdes entre o mundo dos letrados e o dos iletrados tém reve-
lado a multiplicidade de espagos de exerefcio da politica. Essas contribui-
gées tem apresentado enfoques novos para o estudo de aspectos relevan-
tes da cultura politica da Independéncia, ao mesmo tempo que tém dado
novas perspectivas para o estudo das correntes de pensamento presentes
naquela quadra politica." _
Essa frente de pesquisa tem permitido também langar novos olhares
sobre a Ilustracéo Portuguesa, enfatizando o programa de reformas que
empolgou importantes setores da politica metropolitana no final do século
XVI, no esforco de repensar o Império Lusitano, ¢ 0 papel dos dominies
ultramarinos no seu interior. Esses estudos tém focalizado sobretudo os
anos que antecederam a migracao da Corte, ¢ as varias linhas de forga em.
presenga na América durante o perfodo joanino."! A elevagio dos domf-
nios americanos 4 condigdo de Reino Unido, e a complexificagao do cam-
"9 Deve-se mencionar aqui a relevancia das sugestées de pesquisas contidas em Pierre
Rosanvallon. Le moment Guixot. Paris: Gallimard, 1985; L’Etat en France de 1789 & nos jours.
Paris: Seuil, 1990 e La démocracie inackrote. Histoire de la sowveranité du peuple en France. Paris:
Gallimard, 2000. Ver uma sintese de suas posiges em Por uma histéria conceitual do
politico, Revista Brasileira de Histérin, Sio Paulo: Anpub-Contexto, vol. 15, n° 30, 1995.
4" Luts C. Villalta, Reformismo ilustrado, censura e praticas de leitura: uses do livro na América por-
tuguesa, Doutorado. So Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Cincias Humanas, Univer~
sidade de Sao Paulo, 1999; Renato Lopes Leite. Republicanos e libertdrios. Pensadores no Rio
de Jantiro (1822). Rio de Janeiro: Civilizacao Brasileira, 2000. Ana Rosa Cloclet da Silva.
Construgio da Nagi e escraviddo no pensamento de José Bonifécio: 1783-1823. Mestrado. Cam-
pinas: Unicamp, 1997 ¢ Inventando a Nagito. Intelectuais ilustrades eestadistas luso-brasileiros no
ripiisealo do Antigo Regime Portugués: 1750-1822, Doutorado. Campinas: Unicamp, 2000.
"3 Ver Andréa Slemian. O dificil aprendixado da politica na Corte do Rio de Janeiro (1808-1824).
Mestrado, Sao Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras ¢ Ciéneias Humanas, Universidade de
Sio Paulo, 2000; e Jurandir Malerba, A Corte no exilio; civilizagao ¢ poder no Brasil as vésperas
da Iadependéncia, S30 Paulo: Companhia das Letras, 2000.
110 WILMA PERES COSTA
po das escolhas polfticas propiciados por esse processo tem sido hoje ava-
liados como temas estratégicos para compreender os conflitos € as esco-
Ihas politicas da geragao da Independéncia. Um dos produtos mais origi-
nais dessa perspectiva de andlise, pela forma criativa como trabaiha a di-
mensao utépica na produgao de alternativas politicas, é a cuidadosa re-
constituigio histérica produzida por Maria de Lourdes Viana Lyra sobre as
metamorfoses do conceito de Império na trajet6ria da Tlustragao portu-
guiesa € sobre as polissemias que ele veio @ assumir na América portugue-
sa, travejado pelo horizonte politico do Reino Unido.'*
Perspectivas estimulantes tém-se verificado também nos estudos que
procuram iluminar aspectos do debate politico da Independéncia, a partir
do papel da imprensa ¢ de sua importéncia na condensagio dos vocabula-
rios politicos." A tendéncia tem precursores importantes na década de
1970" e tem produzido estudos de grande qualidade sobre a imprensa,
em andlises de conjunto,"* mas também nos estudos centrados na curta
duragio ¢ em trabalhos monograficos sobre 6rgaos especificos.'* Neste
ee
112 Maria de Lourdes Viana Lyra, A utopia do poderaso império. Rio de Janeivo: Serre Letras,
1994. Vor também Ana Rosa Cloctet da Silva. Consirugo da Nagio zescravidlaa no pensamento
ve Tove Bonifieio: 1783-1823. Campinas: Editora da Unicamp/Centro de Memoria, 1999 €
Throenando a Nato. Intelectuais ilusirados e estadistas luso-brasileros no oreptisculo do Antigo
Regime Portugués: 1750-1822, Doutorado, Campinas: Deparamente de Histéria, Unicamp,
aoe ox também Laicia Maria Bastos Neves. Corcundas, constitucionais ¢ pés-de-chamnbo: a
‘altura politica da Independencia (1820-1822). Rio de Jancixe: Revan-Faperj, 2002.
133 Yer Jodo Paulo G. Pimenta. Estado enago no fin dos impérias béricos 0 Prata, 1808-1828. Sie
Paulo: Hucitee, 2002.
sot eo Arnaldo Daraya Contier. Ideologia dominante om Sao Paulo através dos periédicos (1827-
1835) etudo do vocablério politico, Sao Paulo, 1972.¢ Maria Beats Nizza da Silva. Formas de
representagito politica na tpoca da Independencia: 1820-1823, Brasilia: Camara dos Deputados,
Centro de Documentagdo ¢ Informagio, Coordenasio de Publicagbes, 1988; Movimento
constitucional eseparatismo no Brasil (1821-1823). Lisboa: Horizonte, 1988.
13s Para importante estudo de conjunto ver Marco Morel. [a formation espace publicmoderne
1 Ria de Janciro (1820-1840): opinion, acteurs etsociabiltt, Doutorado Universidade de Paris 1,
oe: Haein eimprnsa. Rio de Jancio: Ueri/IFCH, 1998 e, em parceriarom Mariana Monteiro
Jie Button, Palaora, Imagem e Poder. surgimento da imprensa no Brasi do séeulo XIX. Rio de
Janeiro: DP&A, 2008. Trabalhos recentes tém enfocado também o papel da imprensa, em
niliges sobreacurta duragio. Ver Isabel Lustosa. Insulios impresos -4 007 dos jornalistas ne
Independencia (1821 1823). S20 Paulo: Companhia das Letras, 2000, Liicia Bastos Pereira das
Neves. Op, cit; Maria do Socorro Ferraz Barbose. Libernis ¢ Liberni~ Doutorado. Séo Paulo:
Universidade de So Paulo, 1991. Sobse os liberais, ver também Cecilia Helena de Salles
Oliveira. A asticia liberal, op. cit.
136 Aqui também os estudos de Maria Beatriz Nizza da Silva foram pioneitos, Ver A primeira
igazeta da Babia: Tdade d Ouro do Brasil Sio Pal: Cultrix, 1978. Ver também Marco Morel.
Cirpriano Baraia na Sentinela da Liberdade, Salvador ‘Academia de Letras da Bahia-Assem-
ida Legistativa do Estado da Bahia, 2001; Antonio Carlos Amador Gil. Projetos de Estado no
“aloorecer do Império: Sentinela da Liberdade e Typhis Pernambucano: a formulagio de uin projeto
“paomatrugio do Esindo. Mestrado. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro,
1991; Geraldo Martires Coelho, Anarguistas, demagogasedissidentes: a imprense liberal no Pard
de 1822, Belém: Cejup 1993.
\ INDEPENDENCIA NA HISTORIOGRAFIA BRASILBIRA iil
aspecto, € indispensavel mencionar 0 rico volume de ensaios interpretati-
yos que acompanhou @ edigao fac-similar do jornal Correia Braziliense, wm
dos mais importantes formadores de opiniao 20 longo do processo de eman-
cipacao politica.” De modo cortelato, na mesma interface, tem-se Te-
novado o interesse pela Magonaria, nao apenas no Rio de Janeiro, mas
também em suas expressoes regionais."*
Como desdobramento importante dessa convergéncia entre as esferas
da politica ¢ da cultura, deve-sc indicar 0 surgimento de diversos estudos
sobre o campo das representagoes. As festas, 28 ceriménias publicas, as
formas artisticas, tm sido aspectos revisitados pelos pesquisadores, tanto
nos estudos de época, como nas polissemias € mutagées das formas de
incorporagzo da Independéncia no imaginério coletivo."?
A NAGAO COMO CONSTRUGAO! MOSAICO
O impulso mais recente recebido pelo debate historiografico sobre a
emancipagao politica conecta-se @ movimentos que tém afetado a econe-
mia global ¢ a entidade que tem sido a forma prioritaria de organizagao
politica das comunidades humanas desde 6 século XIX: 0 Estado Nacio-
nal. Um dos aspectos mais notérios desse fendmeno, sentido nas tiltimas
décadas, € a crescente perda da capacidade regulatéria dos Estados Na-
cionais sobre os fluxos financeiros que operam em ambito planetario, te-
tirando da entidade estatal muito daquilo que @ tcoria keynesiana (¢ a
filosofia politica) lhe haviam atribuido como possibilidade de fomentar pro-
oe
1s Flipélito José da Costa ¢ 0 Gosrcio Brasifiense. Estudos. Sao Paulo: Imprensa Oficial-Correio
Bruiliense-Labjor Unicamp, 2002, vol. XXX ‘Avg esta publicagao, 08 estudos mais
ae gobre 0 coma cram 05 dc Carlos Rizaini, Hips ito da Costa e o Correio Brassiliense, S80
Paulo: Nacional, 1957 e Mecenas Dourado. ‘Hipélito José da Costa eo Correia Brasiienss 2vols.
Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1957.
ww Bene Tavela Colveci. A snagonaria gaia no séetle XIX, Passo Fundo: Ediupf, 1998 Ale~
vnde Mansur Barata. Magonaria, sociabilidade i Indepenciinca (Brasil, 1790-1822). Doutorae
do. Campinas: Unicamp, 2000; Celso Jaloro ‘Geile Jr. A magonaria baiana e sua histéria.
Si sadon P&CA Ba, 2000. Ver também Marco More}, Sociabilidades entre luzes ¢ sombras:
apontamentos para o estudo histérico das raconarias da primeira metade do sécule XIX.
Pindos Histbricos, Rio de Janeiro, n° 28, 2001.
11 Ver Maria de Lourdes Viana Lyra. Meméria da Independéncia: marcos ¢ representagdes
Ye poieas- Revista Brasileira de Historia, ol, 15,5" 12pm, 473-206, 1995; Joao P. Furtado.O
‘manta de Penelope: historia, miro ¢ meméria de Tnconfdeacia Mineira de 1788-89. Sio Paulo:
Companhia das Letras, 2002; Iara Lis Carvalho Souza, Patria coroada. O Brasil como corpe
polio autGnomo (1780-1831). Sao Paulo: Fedivora da Unesp, 1999. Sobre as mutagbes de
pole na comemoragao da Independencia ver Noe Freire Sandes. Op. cit Liana Ruth
Bergstein, Da imagem retérica:a quesiao da 1 ve dade na pintara de Pedro Américo no Brasil
aera ta. S20 Paulo, 1998 Thais Nivia de Lima Fonsee’, Da infitmia ao altar da patria
smeméria e rapresentacaes da inconfidencia mincira ¢ “de Tiradentes. Sio Paulo, 2001 ¢ Cecilia
Tetena de Salles Oliveira. “Bspetdcula do Ypiranga”, ch
112 WILMA PERES COSTA
gresso econémico e¢ produzir ordem social. Outro trago que tem desafiado
a reflexao dos intelectuais e homens politicos € 0 reaparecimento, no ce-
nério internacional, de manifestagdes de cunho nacionalista associadas &
violéncia étnica. Se, com freqiiéncia preocupante, as agGes violentas tém
partido dos Estados contra minorias no interior dos seus territérios, nfo
tém sido incomuns as agdes contra instituigdes do Estado de direito, por
minorias que reivindicam autonomia politica, @ pretexto das suas diferen-
cas étnicas, lingitisticas ¢ religiosas. As manifestagdes mais contundentes
tém-sc originado no Leste curopeu, a partir do desmoronamento do Im-
pério Soviético ¢ da fragmentagio da Tugoslavia, ¢ no Médio Oriente, mas
nao tém deixado imunes os paises europeus mais desenvolvidos. Nestes,
© processo parece pér em causa a propria viabilidade da Unificagao Euro-
péia, como entidade politica em que as nagdes encontrassem uma repre-
sentatividade capaz de se coadunar com uma ordem estavel."” Uma idéia
cara ao pensamento politico de esquerda, a da progressiva superagao do
nacionalismo de contetido étnico-cultural pelo nacionalismo de tipo efvico
(0 plebiscito cotidiano de Renan) vem sendo negada pelo noticidrio politi-
co.'# A todos estes movimentos nao é estranho o fato de que os efeitos
das transformagées em curso tém corrido paralelo & exacerbagao da xeno-
fobia ¢ da vocacdo imperial no Estado nacional hegemdnico, os Estados
Unidos da América do Norte.
A contundéncia das mudangas tem-se revelado um desafio a todas as
tradigdes tedricas que se empenhavam em interpretagdes de grande al-
cance sobre 0 capitalismo e o seu devir. Elas tm atingido o marxismo de
modo frontal, nio apenas porque seu epicentro se encontra no esfacela-
mento do chamado “socialismo real”, mas porque ela faz re-emergira “ques-
tio nacional”, tema caro aos debates marxistas do inicio do século XX,
que a politica stalinista supés poder suplantar. Grandes transformagées €
ctises da teoria costumam ser momentos fecundos para a disciplina hist6-
tica. Elas tém suscitado, por isso mesmo, reflexdes de grande profundida-
de nas quais a natureza ea hist6ria do fendmeno nacional tém recebido
olhares renovados.'”
ual
140 Paca uma interessante andlise dessa discussio, permeada pelo posicionamento dos histo-
tiadores, ver Elias Palti. La nacién como problema — Los historiadores y la cuestién nacional.
México: Fondo de Cultura Econémica, 2003
Lt Ver José Ramén Recalde. La construccién de las naciones. Madti: Siglo XX1, 1982,
142 Para uma viso panoramica do debate, ver Gil Delannoi & Pierre-André Taguieff (org.).
‘Toorias de! Nacionalismo, Barcelona-Buenos Aires-México: Paidés, 1993. Referéncias que
permanecem sendo revisitadas na polémica atual sio José Ramén Recalde, op. cit; Emest
Geliner. Nardes e nacionatismo, Lisboa: Gradiva, 1983; Benedict Anderson. Nagao e consctén-
dia nacional, Si0 Paulo: Atica, 1989; Eric J. Hobsbawm. Nagdes ¢ nacionalismos desde 1780:
programa, mito, realidade, Rio de Janeito: Paz Terra, 1990; Anthony Smith. Las teorfas del
nacionalismo. Barcelona: Peninsula, 1976.
A INDEPENDENGIA NA HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA 113
Embora nao seja este o lugar para explorar as variadas dimens6es heu-
risticas das grandes transformagdes aqui apontadas, penso que é relevante
identificd-las como contexto de uma renovasao do interesse pelo tema da
nag&o como fato politico ¢ como problema historiografico. Um dos efeitos
mais notorios tem sido o de estimular a reflexio sobre as particularidades
historicas das nagdes da América, seja no que se refere & dimenséo etno-
cultural, seja no que toca a dimensio cfvica do nacionalismo.'*
No caso da historiografia brasileira na qual sempre foi grande a permea-
bilidade da temética da Independéncia a reflexao de carater identitario, 0
debate historiografico conecta-s¢ com 0s questionamentos sobre as for
mas econdmicas, politicas ¢ culturais de insergo. da nagao brasileira em
um contexto mundial em rapida transformagao. Nossas referéncias ¢ rai-
nes ibéricas, africanas, latino-americanas, nosso mosaico de diversidades
étnicas € regionais tém sido estimulos que se desdobram em diversas pos-
sibilidades abertas A investigacao. Por outro lado, ac mesmo tempo que 4
questo da relagio entre as “partes” ¢ 0 “todo” ganha nova urgéncia, cla
o faz em contextos que obrigam a desconstruir € refazer idéias anterior-
mente assentes, como as de “centro” ¢ “periferia”, ou a da inevitabilida-
de histética de nossa unidade territorial e politica. Esse modo de conceber
a temética tem buscado pensar 0 processo de emancipacao politica como
momento crucial de um processo de transformagao das identidades coleti-
vas preexistentes € de suas miltiplas formas de politizagao. A nogio de
identidades poltticas coletivas tem, desse modo, operado como chave para
construcio de hipéteses fecundas de pesquisa, pois tem favorecido a pro-
blematizagao das “relagdes entre as partes ¢ 0 todo” € a recuperagio da
operacionalidade empfrica da idéia de crise do sistema colonial. Seu nexo
_
ve Anélises de grande repercussio na reflexio americana slo de Jack Greene, Negotiated
‘Authorities, Essays in Colonial Political and Constitutional History. Charlottesville e Londres:
University Prose of Vieginia, 1994; Anthony Pagden. The Uncertainties of Empire: Essays in
Torin and Ibero-American Intellectual History. Brookfield, Vts Ashgate Pub. Co., 1994 ¢
Anthony Pagden (ed.). Facing Each Other: The World's Perception of Europe and Europe’
Paraption ofthe World, Aidershot, Hampshire, Great Brtain-Burlington, Ve: Ashgate/Variorum,
2000. Vor também Anthony Pagden & Nicolas Canny (org). Colonial Identities in the Atlantic
World, 1500-1800, Princeton: Princeton University Press, 1987. Dos estudos produzidos na
América Latina, a grande referéncia tem sido os trabalhos de José Carlos Chiaramonte, Ver
especialmente Ciudades, provincia, Estados: origenes dela nacién argentina (1800-1846), Buenos
‘kes Ariel, 1997, “Formas de identidad politica en el Rio de la Plata lucgo de 1910”, in: Bo-
‘otis del Instituto de Historia Argentina y Americana «Dr. E. Ravagnanin”, 3° Serie n° 1, 1° sem.
1989, “El federalismo argentino en la primera mitad del siglo XIX”, in: Marcelo Carmag-
nani (ong. Federatismos latinoamericanos: Méxice, Brasil, Argentina. México, DF: Fondo de
Cultura Econémica, 1993.
+ Q goneeito deve muito as formulagdes de José Carlos Chiaramonte, em: “Formas de identidad
politica on el Rio de fa Plata luego de 1810", in: Bolen del Instituto de Historia Argentina y
“Americana «Dr, Emilio Ravignani»”, 3 série, n° 1, Buenos Aires, 1989.
114 WILMA PERES COSTA
comum € 0 acento sobre a dimensio construida € multifacetada da nacio-
alidade brasileira e a busca de mediagdes pelas quais ela possa set perce-
bida pela pesquisa historiografica- = Assim, a crise do Antigo Sistema Co-
lonial, entendida como dimensao particular da crise do Antigo Regime, €
apreendida por meio das praticas dos agentes sociais que as viveram, ten-
do em conta que “a crise nao aparece > consciéncia dos homens como
modelo em vias de esgotamento, mas Como percepgao da perda da opera-
cionalidade de formas consagradas de reiteragio da vida social. [.. .] € na
busca de alternativas que 4 crise se manifesta, é nela que adquire efetiva
vigéncia”.
Fssas inquictagdes convidam a renovacao de paradigmas, mas também
a refazer trajetorias © reciclar matrizes tedricas que apontem para inter-
pretagdes de Jargo espectro, mesmo quando materializadas em. estudos
sobre temas pontuais. Em metéfora das mais felizes, {stvan Janesé, profi-
cuo peregrine dessas novas sendas, referiu-se a nacionalidade brasileira
como um “mosaico”, sublinhando simultancamente @ sua feicao, compési-
ta e seu carater de artefato, de coisa operosamente construfda.""*
Essa perspectiva impoe uma nova maneira de conceber a crise do siste-
ma colonial, pois ela aparece materializada em uma miriade de manifesta-
des socials, apontando para & importancia do estudo de suas expressdes
no plano do cotidiano e das formas de sociabilidade, bem como para as
ouangas contidas na esfera da mutagio dos vocabularios politicos. Revol-
vendo terreno semeado por Caio Prado Junior com os jnstrumentos dessa
nova histéria politica, @ exploragio das formas de sociabilidade permite
observar modos como @ crise afetava de modo diferenciado os estratos
sociais distintos. A politizagio das identidades étnicas € © universo de pré-
ticas dos homens livres ¢ pobres incorporamese assim ao mosaico, media-
das pelas diferengas sociais ¢ regionais. A sinalizagao da crise do sistema
no plano das praticas assinala-se, nessa interpretagao, pela emergéncia de
uma nova cultura politica, em contraste com a que havia sido dominante
vis A necessidade dessa operacionalidade empitica vinba sendo sentida desde 0 proprio est"
elecimento desse paradigms, VeF por meemplo Francisco Faleén & Limar Maxtor: “Oo
processo de Independencia no Rio de ‘anciro”, in: Carlos Guilherme Mora, 1822: dimen-
ses, pp 292-340.
Gs teuvdn Jancs6 & Joo Paulo Garrido Pimene. «pegas de um mosaieo: apontamentos pare
cyendo da unidade nacional brasileira”, in: 1 ae Guilnerme Mota (org) Viqgem incomplea-
3 experiéncia brasileira (1500-2000). srormagao: istéias. Sao Paulo: Senac, 2000 Ver, tam
bem, Istvin Jancs6, “A constragdo dos econ nacionais na América Latina, aponrarsent®
para o estudo do Império come ‘Projetc” in: Tanmés Samareesényi & Jose Roberto do Amaral
Lapa. Historia econdnica da Tndependencia edo Império. Sao Paul: Hlucitec-Fapesp, 1996;Na
savin contra 0 Império. Histéria do ensaio de sedigao de 1798. Sio Paulo: Hucivec, 1996 €
Tdentidadespoliticas coletoas no desdobramento cada dato Sistema Colonial (1798-1822 ).
MAMI] Sienpésio Nacional de Hist6ria/Anpuhs 1998, Recife: Universidade Federal de
Pernambuco (impresso)-
A INDEPENDENCIA NA HISTORIOGRAFIA BR ASILEIRA 115
no absolutismo ilustrado, confinada ao universo das elites. A cultura politi-
ca que emerge 1 crise tem ainda os Jetrados por portadores, mas estes
aparecem a0 lado (¢ em relagdo com) homens de categoria social inferior
A relagdo entre as camadas letradas © as nao letradas torna-s¢ estratégica
para compreender as novas formas de mobilizagao politica.”
Por outro lado, enfatizando a jdéia da articulagao entre a crise do siste-
ma colonial articulada & crise do Antigo Regime, Istvan Jancs6 tem enfati-
zado nela 0 efeito diversificado nas diversas abrangéncias do sistema: 0
Império Portugués em seu conjunto, 4S distintas partes da América portu-
guesa, as distintas esferas de organizacao do poder (0 plano local, o plane
das capitanias/provincias, 0 plano Jon vice-reinos). Percebida dessa ma
acira, sublinhando & transformagao das formas ge sociabilidade ¢ dos mo-
dos de agio politica, essa linha procur combinar a idéia da Independéncia
como processo de longa duragio, quando visto em seu conjunto, com 2
jdentificagao de distintas temporalidades da manifestagao da crise, no pla-
no das partes do Lmpério. F aqui que 0 conceito de identidades politicas
coletivas revela sua fecundidade, a0 sublinhar que Tea) @. instauragao do
Estado brasileiro se d4 em meio & coexisténcia, nO interior do que fora
anteriormente @ América portuguesa, de'miltiplas identidades politicas,
cada qual expressando crajetérias coletivas que, reconhecendo-se partici
ares, balizam. alternativas de seu futuro. Essas identidades polfticas cole-
tivas sintetizavam, cada qual & sua manceira, 0 passado, 0 presente € 0 futuro
das comunidades humanas em cujo interior cram engendradas, cujas ofga-
nicidades expressavam € cujos furures projetavam. Nesse sentido, cada
qual referia-se 2 alguma realidade e a algum projeto de tipo nacional.”
‘A idéia de identidades politicas coletivas pressupoe ¢ incorpora 2 dind-
mica dos conflitos, pois concebe tais identidades em construgao balizada
por alteridades que sao também miiltiplas & dinamicas. A vantagem dessa
perspectiva tem sido a de permitir pensat © process de emancipagao po-
Iitica ao arrepio da visao tradicional (a partir do Rio de Janeiro e de sua
jrradiagao), mas também suplantar © horizonte que conforma seu Opasto
(0 estudo das manifestagoes regionais de um fenémeno pensado como
univoco), © que se busca, aquis € compreender as “partes” em sua com-
plexidade propria e, a0 mesmo tempo, nas alteridades que 4 cada momen-
———
vo Yon Janes6. “A sedugao da liberdade” in emando Novais (dic). Histéria da vida prio
dena Brasil, Sio Paulo: Companbi das Lens 1997, vol. 1, pp. 388-437 (Cotidiane © vida
privada na América portuguesa). AS possibilidades teércas abertas por o8 perspectiva tem
Pcetado estudos sobre temas anteriorments ‘pouco estudados, como & 0 c280 da insergao
prablemética dos homens livres © pobres nas milicias ens Forgas armadas profissionais. Ver
vexempio no artigo de Luiz Geraldo Silva Negros patriotas. Racac identidade social na
formasdo do Estado nagao (Pemambueos F970.1830)", in: Istvan Jancsé (O¥E.) Brasil: for-
nag do Estado eda naga, Sto Pavilo-Livk “Hucitec-Fapesp-Unijui, 2003
vu Totvdn Jancs6 &¢ Jodo Paulo Garrido Pimensa- Degas de um mosaice. ..”) pp. 131-2
116 WILMA PERES GOSTA
to a pratica politica enfatizava. Desse modo, concomitantemente com a
“viragem” pela qual “consquistadores/colonizadores” tornavam-se “colo-
nos”, processava-se uma alquimia complexa de alteridades “[.. .] Assim é
que os colonos de Gio Paulo reconheceram-se como paulistas, mas por
aqueles outros dos dominios do Rei de Espanha com quem se defronta-
vam, eram percebidos, antes de tudo, como portugueses, € era assim que
se sabiam diante dos espanhdis. Portanto, ser paulista, pernambucano ou
bahiense significava ser portugués, ainda que se tratasse de uma forma
diferenciada de sé-lo. O que interessa ressaltar aqui, € concomitante
emergéncia de trés diferencas. A primeira € aquela que distinguia um por
tugués da América (p. ex: um baiense) de todos que nao fossem portugue-
ses (holandeses, franceses, espanhéis). A segunda, simulténea com a ante
rior, € a que lhe permitia distinguir-se, ao bahiense, de outros portugueses
(p. ex: do reinol, do paulista). Finalmente, uma terceira diferenga é a que
distingue, entre os portugueses, aqueles que sao americanos dos que no
partilham essa condigio”."°
Esse novo paradigma historiogréfico tem suscitado uma nova safra de
trabalhos sobre a Independéncia nas “partes” do Brasil, atentando para as
especificidades da dinamica politica em cada uma delas, nao apenas no
que se refere As temporalidades diversas, mas também as dindmicas dis-
tintas dos conflitos de classes ¢ das variéveis de carater identitério.'°
‘Ao mesmo tempo, a idéia de uma dinamica propria as “partes” permite
lancar uma nova luz sobre as articulagées dos processos que s¢ desenrola-
vam concomitantemente em Portugal ¢ no Reino do Brasil ¢ 0 cardter
mutante dos horizontes politicos no desenrolar da crise. A perspectiva tem
possibilitado langar uma luz nova sobre episédios bastante estudados ¢
renovar a interpretagio de temas consagrados tanto no desenrolar da rup-
tura com Portugal, como, posteriormente, na consolidagao do Estado.’
a
10 “Jgevin Janes & Jodo Paulo Gartido Pimenta. “Pegas de um mosaico. .”, pp. 136-7
15) Dantes oe tabalhos que nascem desta perspectiva ver Roberta Giannubilo Stumpf. Filho:
se vane, ameriaanos e portuguese: identidadescoletvas na enpitenia das Minas Gerais (1763-
1792), Mestrado, Sto Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras ¢ Ciéncias Humanas, Universi-
sac ade Sto Paulo, 2001; Thomas Wisiak. A “Nagéo partida ao meio": tendéncias politicas na
sae cncanieda Inplri luso-braslero (1821-23), Mestrado. Sio Paulo: Faculdade de Filoso-
fia, Letras ¢ Ciéncias Humanas, Universidade de Sto Paulo, 2001; Denis Anténio de
Mendonga Bemnatdes, O patriotism constitucional: Pernambuco, 1820-1822. Doutorado, Sto
pats: Peeuldade de Filosofia, Letras ¢ Cigncias Humanas, Universidade de Sto Paulo,
PaO. Pasa umn trabalho pioneio em perspectiva convergente ver Marcus Joaquim Maciel
D Carsalho. Hegemony and Rebelion in Pernambuco Brasil), 1821-1835, Doutorado, University
of Illinois at Urbana-Champaign, 1989.
151 Ver, por exemplo, Mércia Regina Berbel. A nagdo como artefato:deputados do Bresilnas Cortes
portuguesas, 1821. 1822. Sto Paulo: Hucivee-Fapesp, 1999, onde a autora procura comPrcen-
jer a dindmica das varias identidades politicas em conflito nas Cortes portuguesas,
desconstruindo uma interpretagio que gozava de grande consenso: a de que a TupHura se
You might also like
- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)
- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)
- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)
- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)
- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)
- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)
- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)
- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)
- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)
- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)
- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)
- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)
- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)
- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)
- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)
- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)
- Plano de Aula - Imperialismo 2 Ano Do Ensino MédioDocument3 pagesPlano de Aula - Imperialismo 2 Ano Do Ensino MédioCarinna AlmeidaNo ratings yet
- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)
- Saint-Hilaire Diamantes e Corte No BrasilDocument481 pagesSaint-Hilaire Diamantes e Corte No BrasilCarinna AlmeidaNo ratings yet
- Aula Renascimento 1 Ano EMDocument1 pageAula Renascimento 1 Ano EMCarinna AlmeidaNo ratings yet
- Peter Burke - O Renascimento ItalianoDocument173 pagesPeter Burke - O Renascimento ItalianoCarinna AlmeidaNo ratings yet
- ComissaoDaVerdade V2Document434 pagesComissaoDaVerdade V2Carinna AlmeidaNo ratings yet
- Sindicancia Marinha Volume1Document102 pagesSindicancia Marinha Volume1Carinna AlmeidaNo ratings yet
- Sindicancia-Marinha Volume3Document67 pagesSindicancia-Marinha Volume3Carinna AlmeidaNo ratings yet
- CATROGA Fernando Memoria Historia e HistDocument37 pagesCATROGA Fernando Memoria Historia e HistCarinna AlmeidaNo ratings yet
- O REPERTÓRIA MORAL DO ABOLICIONISMO - ANGELA ALONSODocument20 pagesO REPERTÓRIA MORAL DO ABOLICIONISMO - ANGELA ALONSOCarinna AlmeidaNo ratings yet
- Um Confronto Entre Juazeiros Canudos e ContestadosDocument20 pagesUm Confronto Entre Juazeiros Canudos e ContestadosCarinna AlmeidaNo ratings yet
- IZECKSOHN, V. A Guerra Do Paraguai. in GRINBERG, K. e SALLES, R. O Brasil Imperial, v. II 1831-1870. Rio de Janeiro Civilização Brasileira, 2009. P. 385-424.Document19 pagesIZECKSOHN, V. A Guerra Do Paraguai. in GRINBERG, K. e SALLES, R. O Brasil Imperial, v. II 1831-1870. Rio de Janeiro Civilização Brasileira, 2009. P. 385-424.Carinna AlmeidaNo ratings yet
- Teremos Grandes Desastres, Se Não Houver Providências Urgentes e Imediatas - Maria Helena P.Document18 pagesTeremos Grandes Desastres, Se Não Houver Providências Urgentes e Imediatas - Maria Helena P.Carinna AlmeidaNo ratings yet